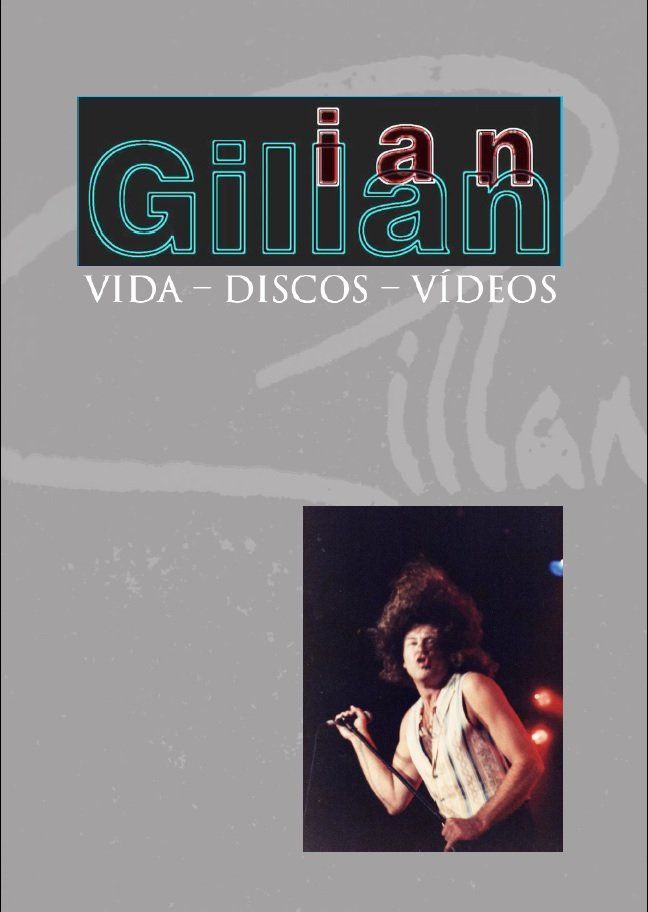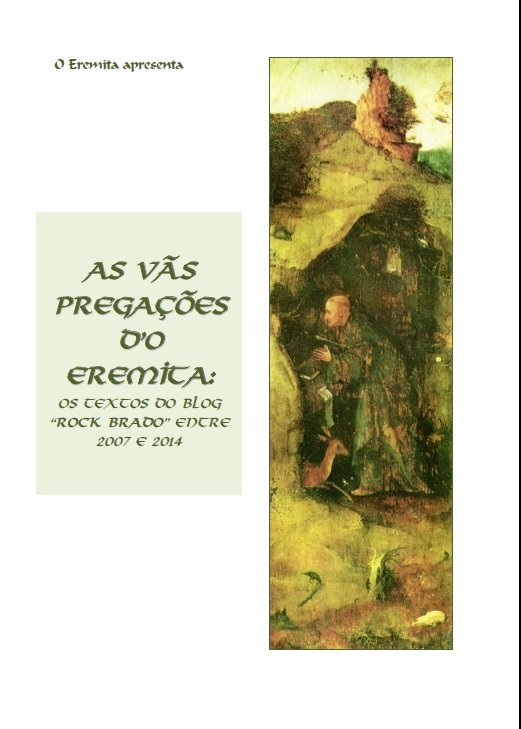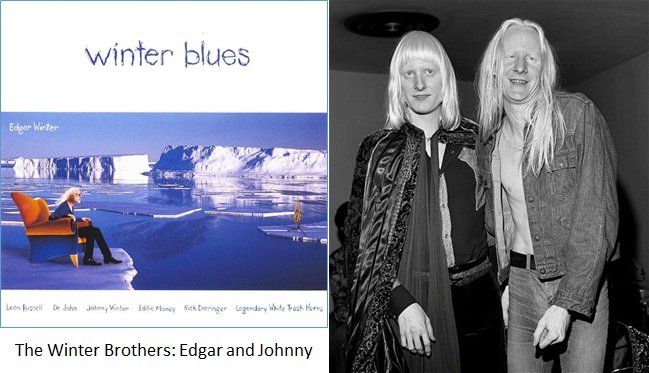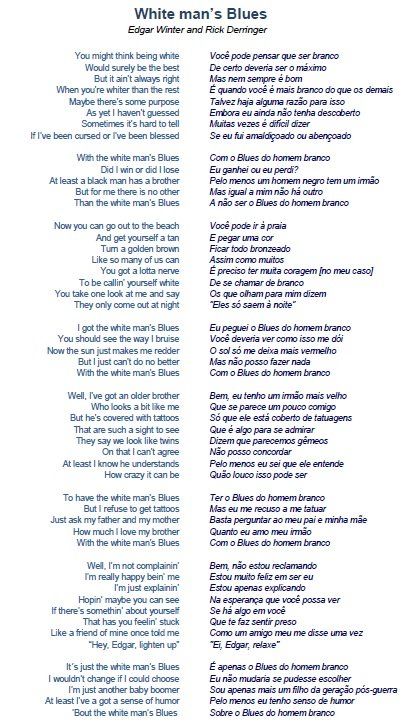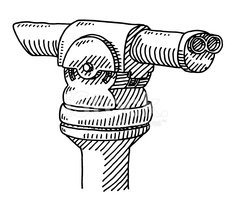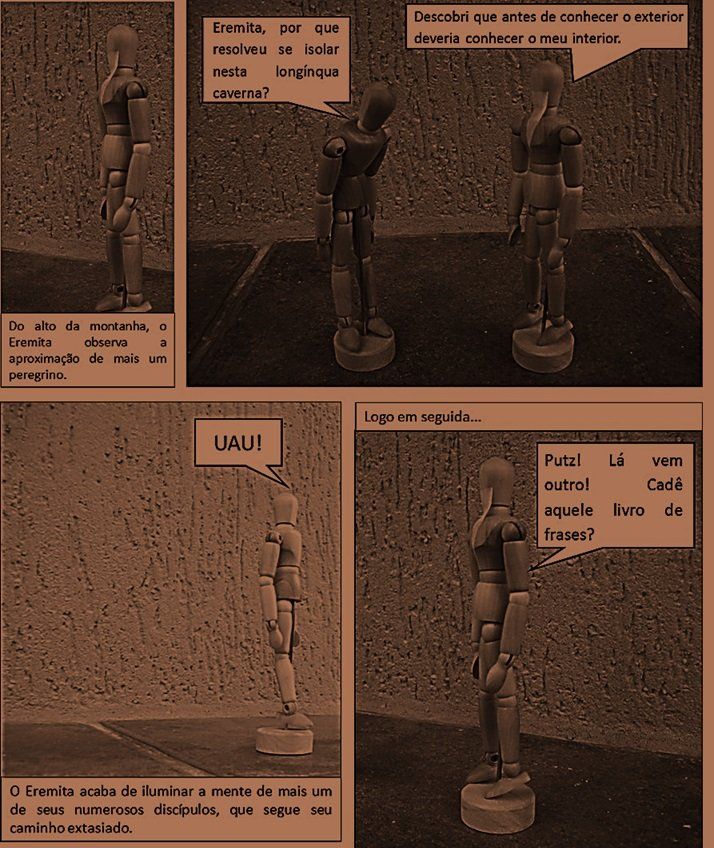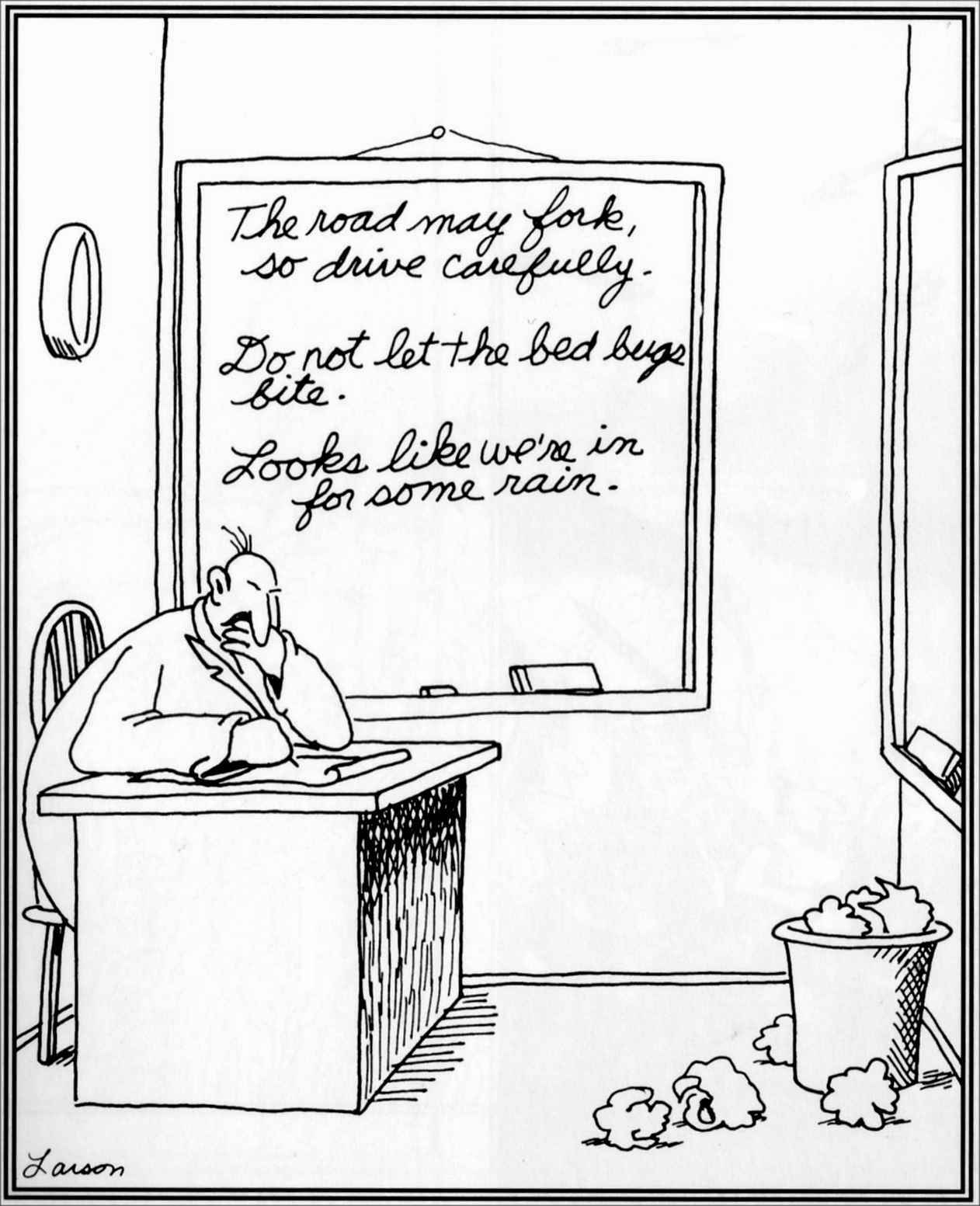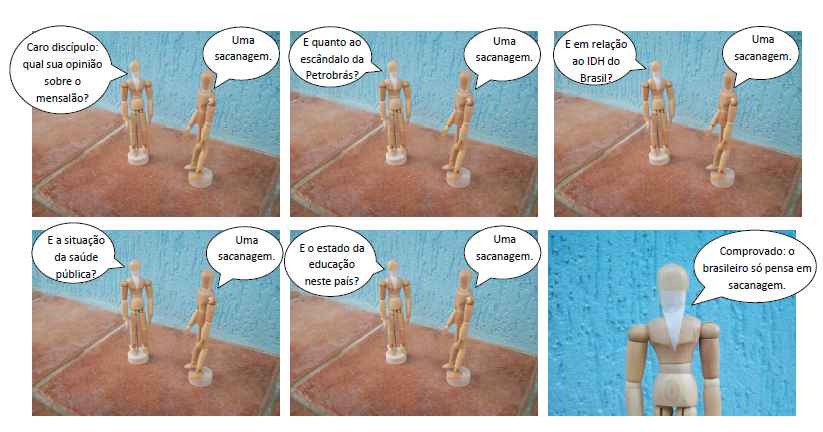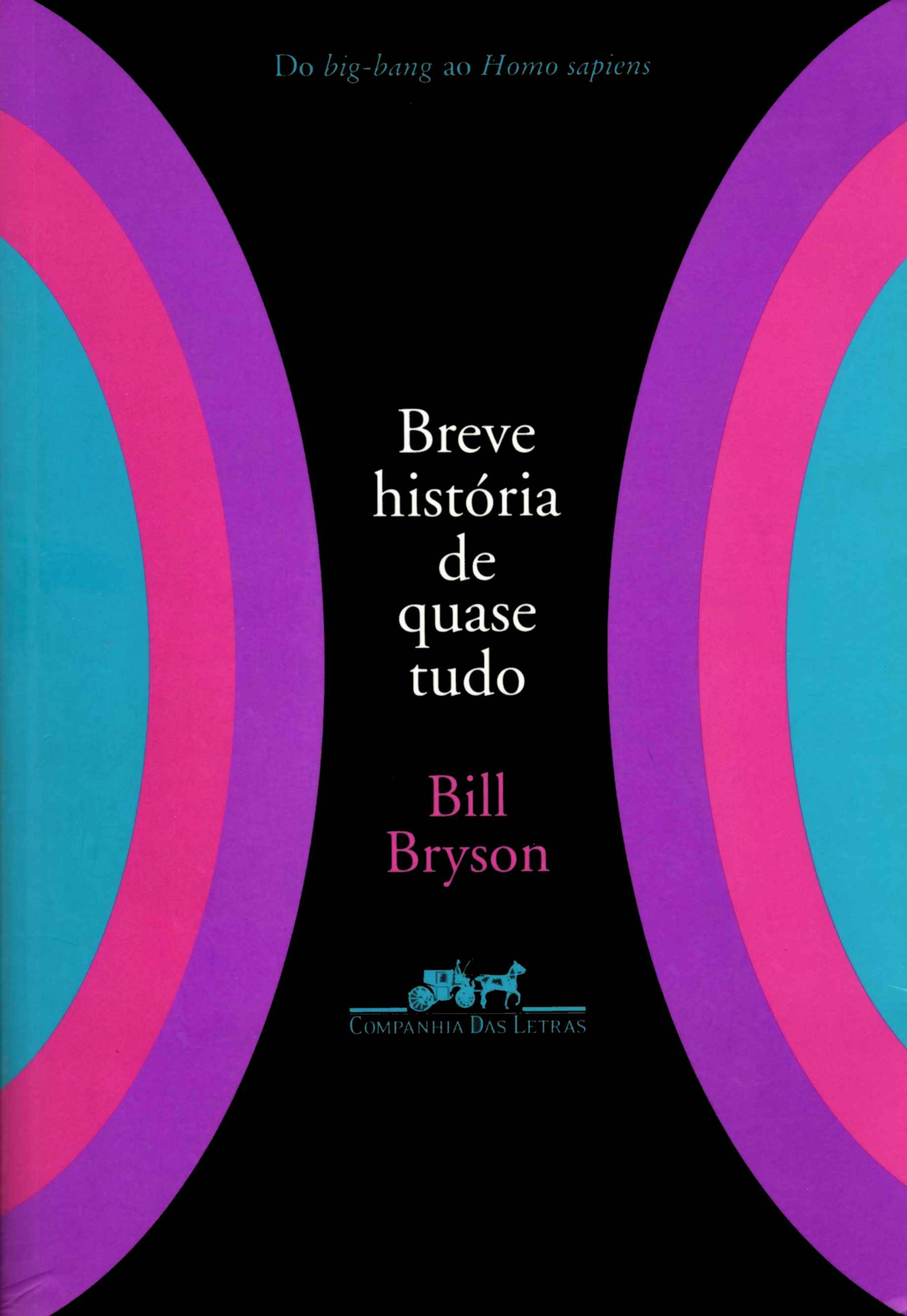Continuo firme na campanha de valorização das capas de discos de Rock, mostrando nesta série o que não deve ser feito. Seguem mais cinco casos em que o valor estético foi, como diriam os influencers de Itatiba, cancelado.
Creedence Clearwater Revival – Cosmo’s Factory (1970)
Uma das bandas que adoro, o Creedence. Vulcão de hits. Lançaram cinco álbuns em dois anos (!), lotados de grandes músicas (a maior parte é hoje clássicos do Rock) entre julho de 1968 e julho de 1970, ano em que saiu o Cosmo’s Factory. Tirando a capa do Willie and the Poor Boys, o Creedence não fez escolhas brilhantes para ilustrar seus discos. Talvez apostassem na qualidade do conteúdo, coisa do tipo: “põe qualquer coisa na capa – vai vender muito assim mesmo”. É evidente que não foi isso, mas uma mente irregular como a d’O Eremita chega a pensar em coisas assim. Entre os quatro discos que sobram, o ápice invertido é a capa do Cosmo’s Factory. Embalagens em geral, como capas de discos, deveriam ser atrativos de venda, certo? Mas, quem se animaria a comprar esse disco por essa capa? Só mesmo quem já conhecia a banda. A tal “Fábrica do Cosmo” tem a seguinte explicação. No começo da carreira, eles ensaiavam em um galpão que foi batizada de “Factory” pelo baterista do grupo, Doug Clifford (o barbudo), que tinha o apelido de Cosmo. A capa tenta mostrar o ambiente desse lugar que eles ensaiavam. Nada funciona bem. Doug é o destaque, montado na bicicleta, o que deixava clara a ideia que ali era um lugar de ensaio e não uma academia, enquanto os demais músicos estão no chão, juntos dos instrumentos. A combinação das cores, incluindo o logotipo, não transmite nada que lembre a força das composições. Pelo contrário, parece uma daquelas fotos dos amigos descansando largados na garagem depois de tomar todas. Quem aprovou isso? Mesmo assim vendeu muito, porque o disco é bão, ah se é bão!
Freddie Mercury – Never Boring (2019)
Essa capa está aqui porque acho que existe uma espécie de maldição me ligando a ela. É impressionante como eu me deparo toda a hora com essa coisa. Nem gosto do Queen, então não teria motivo para ir atrás dos discos do Frederico Mercúrio. Como ela acabou entrando em meu campo visual umas setecentas vezes mais do que eu gostaria, a antipatia aumentou. Analisando friamente, que catso de capa é essa? O Fred fazendo biquinho abaixado, enquanto um cara (ou uma mulher bem peluda) está de pé, fantasiado de bailarina de festa do vinho em São Roque, significa o quê? Alguém achou que essa foto era boa e que atrairia os compradores, sei lá com base em quê. Fico me perguntando como é que essas coisas são decididas. Quem será que aprovou isso? Não sou supersticioso, mas espero que essa postagem me livre dessa maldita maldição.
Genesis - ...And Then There Were Three... (1978)
Tal como aconteceu com os três álbuns anteriores de estúdio do Genesis, a embalagem desse álbum foi produzida pela dupla Storm Thorgerson e Aubrey Powell, os donos da Hipgnosis, que tantas capas memoráveis legaram ao Rock. Segundo Thorgerson, “a capa estava tentando contar uma história pelos rastros deixados pela luz". Bem, como diria aquele viciado em apostar na megasena: “não dá para acertar todas”. Esta foi uma das vezes que a Hipgnosis não acertou. A capa é muito escura. Não dá para distinguir o que está acontecendo direito e essa história do traço de luz contar uma história não rolou. Uma capa fraca para um disco fraco, considerando a história do Genesis. Imagino que tenha, apesar disso, vendido bem, por conta da “Follow you, follow me”. Ouvi muito essa música – a recepcionista do meu dentista a adorava! Eu chegava ao ponto de me sentir aliviado quando o motorzinho funcionava, encobrindo aquela trilha sonora enjoativa. Antes que alguém (isso é com você, Gervásio!) comece a me cornetar, declaro que sou muito fã do Genesis, certo?
Lynyrd Skynyrd – Twenty (1997)
O Lynyrd é outra banda que eu adoro e que não leva sorte nas capas. Como não tenho que preencher espaço em lauda e sabendo que o fã da banda conhece sua história, vou focar no caso específico do Twenty. A capa não faz jus ao álbum, que é muito bom, para quem gosta de boa música e não tem aquela implicação tonta de que só a primeira fase do Lynyrd interessa. A capa, por outro lado, afasta. A ilustração lembra aqueles anúncios antigos de almanaque, mostrando uma paisagem de cores berrantes, laranja pra todo lado, com os rostos dos músicos incrustados em uma montanha. Ah, e tem o detalhe do couro azul falsão fazendo fundo. Quem aprovou isso?
Black Sabbath – Forbiden (1995)
Sempre tem que ter uma do Sabbath, a banda campeã de capas horríveis. A má reputação vai além da capa, pois o disco é considerado pela crítica especializada em criticar discos do Black Sabbath como pior da banda. Esses críticos não têm dó. O autor da ilustração infantilóide não se escondeu, o que deve ser destacado como um ato de coragem: é Paul Sample, que também desenhou a capa do álbum Flash Fearless Versus The Zorg Women Parts 5 & 6, criticado um dia neste crítico blog. Dizem os críticos especializados em criticar discos do Black Sabbath que existe uma mensagem política envolvendo o álbum como um todo, ou seja, capa e música. Os músicos do Sabbath são republicanos declarados e por isso, revoltados com os rumos da política americana e os ataques injustos ao humanista e visionário Donald Trump, deixaram um recado também no título do disco – ele é ruim porque é For...Biden!
Publicado em 19.abr.24.
Quadrinhos sem talento - 4
O Eremita costuma usar aqueles bonequinhos de madeira em seus esquecíveis atentados contra as histórias em quadrinhos. Hoje me surgiu uma ideia de tema para um novo episódio dos “Quadrinhos sem talento” e eu resolvi deixar de lado a minha preguiça e tentar alguma coisa nova: em vez dos bonecos de madeira, usarei desenhos! É preciso esforço para superar as barreiras, segundo o livro de autoajuda que estou lendo, do catedrático e imortal Dr. Vigário. Então, corajosamente, me concentrei, pensei em um desenho, sentei frente ao computador e...zás! Segue o resultado. Um desenho inédito, orgulhosamente feito por Inteligência Artificial! Chupem, barreiras!


Publicado em 27.fev.24.
Críticas Improváveis 7 – Ainda no cinema

Bem, eu menti. Isto não é bem uma crítica. É mais um registro de duas curiosidades que vi em dois filmes – um bom e outro mais ou menos.
Começando pelo bom. “Corrida sem Fim” (original, “Two-Lane Blacktop”), de 1971. Filme americano, dirigido por Monte Hellman. O filme tem um enredo bem simples. Dois caras que saem pelos Estados Unidos ganhando a vida apostando corrida com seu carro mexido. O nome dos dois protagonistas nunca é revelado. Eles são identificados como “Mecânico” e “Piloto”. O curioso é que o piloto é interpretado pelo James Taylor e o mecânico pelo Dennis Wilson, que era baterista dos Beach Boys. Eles se saem bem como atores e eu gostei do filme, tanto que lembrei dele anos após tê-lo assistido, a ponto de inseri-lo aqui.
O que me fez lembrar do “Corrida sem Fim” foi ter revisto “O Sobrevivente” (“The Running Man”) na Netflix dias atrás. Apesar de ser muito mais recente, de 1987, este ficou mais datado do que o anterior, com um visual bem cafona. O filme, que é mais ou menos, deve ser encarado como puro passatempo, sem mais ambições. É estrelado pelo ex-governador da California (esses americanos...) Arnold Schwarzenegger (espero ter escrito certo) e dirigido por Paul Michael Glaser, o Starsky da série de TV (eu gostava) Starsky & Hutch. Para quem não viu, o enredo e o visual são uma mistura de “Rollerball” (o primeiro) com “Batman & Robin” (de 1997), usando aquela coisa manjada de um regime totalitário que fornece um jogo sanguinário para que a população possa extravasar sua idiotice e ser mantida sob controle, com uns vilões que são o extrato da breguice. Mas, tem uma curiosidade nele e é por isso que está aqui. Dois, digamos, atores, fazem pontas nesse filme: Mick Fleetwood, cujo personagem se chama, vejam só, “Mick” (provavelmente para facilitar a vida do, digamos, ator) e o Dweezil Zappa (espero ter escrito certo – que nome é esse!), filho, é claro, do Frank Zappa.
Espero ter dado um novo rumo à vida de quem leu este post, com as importantíssimas informações aqui transmitidas.

Publicado em 08.jan.24.
O quê? Agora tem Podcasts d'O Eremita?
Você, que está acostumado com a qualidade da produção d'O Eremita, tem mais um motivo para se decepcionar: chegaram os Podcasts d'O Eremita! Totalmente sustentáveis, sem agrotóxicos e sem patrocínio! Os podcasts têm pouco tempo de existência, mas já estão bombando! Pelo menos, todos os que ouviram usaram a palavra "bomba" em seus comentários.
Dê uma chance aos seus ouvidos e acesse os tecnológicos Podcasts d'O Eremita: http://www.arquivosdoeremita.com.br/podcasts/

Publicado em 03.jan.24.
Contos d’O Eremita - I
O que você faria no lugar do Adolfo?

Adolfo era um cara que gostava de acompanhar a moda. Em tudo. Esportes, roupas, alimentação, linguagem, visual. Tudo. Isso toma tempo, mas ele tinha de sobra. Seus rendimentos eram altos e ele não trabalhava, resultado de uma herança de família que deixou uma vasta carteira de aluguéis e outras aplicações.
Ultimamente Adolfo estava se dedicando às trilhas noturnas. Afinal, era o esporte da moda. Ele e um grupo de amigos costumava viajar para locais distantes e ermos para aquilo que eles entendiam como uma aventura radical, um desbravamento da natureza, uma expedição de homens destemidos. Por outro lado, eles não deixavam de levar todas as mais novas traquitanas tecnológicas para não dar chance aos imprevistos e, por que não, trazer um pouco do conforto moderno àquela experiência bandeirante.
Depois de algumas incursões e com a próxima já agendada, subitamente o grupo se desfez. Um mudou de esporte, antevendo para onde a moda migraria, outro precisou se mudar às pressas por causa de dívidas de jogo, um terceiro desistiu devido às cobranças da namorada e, por fim, aquele que Adolfo considerava o seu único amigo de verdade, Rafael, descobriu que estava com câncer avançado e teve que iniciar tratamento.
O cancelamento da aventura abateu Adolfo, mas o pior foi a notícia da doença. Sabia do sofrimento que passaria a fazer parte da vida do Rafael e de sua família. Pelo que conversou com os pais de Rafael, foi uma descoberta tardia e as chances de sobrevivência não eram das melhores.
Aquilo acendeu um alerta e Adolfo achou que cabia fazer um check-up geral. Ele mesmo vinha notando que alguma coisa estava estranha. Sua urina tinha começado a escurecer e, vez por outra, sentia uma pontada no abdômen.
Adolfo procurou um médico, que pediu uma série de exames. Após uma consulta para análise dos resultados e ouvir uma suposição um tanto desoladora, entrou em uma nova sequência de exames, estes específicos.
Após alguns dias, foi encaminhado para um oncologista. Aparentemente tinha algo muito errado com o pâncreas do Adolfo.
Veio o diagnóstico, que transformou a cabeça do Adolfo em um rodamoinho: câncer e em estado avançado. A internação tinha que ser iminente para tratamento intensivo.
Esse é o tipo de reviravolta que ninguém consegue absorver com tranquilidade. Ainda mais o Adolfo, que nunca parou para refletir a fundo sobre as coisas da vida. Depois de alguns dias horríveis, Adolfo resolveu fazer a trilha sozinho. Afinal, estava tudo planejado, comprado e as coisas ajeitadas. Embora todos soubessem que esse tipo de atividade nunca deveria ser feito a só, ele achou que seria uma boa oportunidade de ter um momento de reflexão, caminhando sozinho na mata e pondo as ideias em ordem, principalmente em relação ao que estava acontecendo com ele e com seu amigo Rafael.
Lá foi Adolfo, completamente confuso, mas acreditando que poderia sair fortalecido dessa jornada solitária.
A caminhada foi iniciada em uma noite particularmente escura. Adolfo estava muito menos ligado ao que acontecia ao seu redor em relação às outras vezes, tomado pelos pensamentos sobre como seria seu futuro. Após duas horas de caminhada, Adolfo parou para descansar. Inclinou a cabeça para tomar um energético quando notou uma claridade vindo em sua direção. Era muito rápida e tinha um formato esférico, com um brilho intenso. Aquela visão paralisou Adolfo. Subitamente, o objeto incandescente caiu a pouco metros de onde estava. Não brilhava mais, mas emanava forte calor. Em poucos segundos, o calor cessou, uma minúscula fenda se abriu na esfera e uma névoa espessa começou a se formar em direção ao paralisado Adolfo.
A névoa tomou uma coloração amarela, com pontos brilhantes que flutuavam dentro do cone formado a partir da esfera, que tinha altura equivalente à do Adolfo em pé, mas este permanecia sentado, feito uma estátua.
Aquele estranha formação começou a se comunicar com o Adolfo, que nessa altura estava quase em estado de choque.
A névoa começou a falar: “Olá, eu sou uma representante dos calucanos. Meu nome é Sep. Periodicamente nós fazemos visitas de monitoramento em vários planetas que nós selecionamos para estudar. A Terra é um deles. Fazemos nossas observações e retornamos com um relatório, sem interferir. Só que desta vez algo saiu errado e acabei caindo aqui. Meu transporte está definitivamente perdido, então não terei como retornar a Caluca. Tampouco poderei enviar meu relatório. Daqui a alguns minutos vou desaparecer, porque me expus a este ambiente, que é hostil para nós. Você está me entendendo? Qual é seu nome?”.
“Adolfo”. Apavorado, mas um pouco mais desperto, conseguiu dizer seu nome, embora em volume tão baixo que mal se podia ouvir.
“Pois então, Adolfo, você deve ter percebido que nós somos muito mais avançados do que vocês. Em nossas visitas verificamos que aqui na Terra muitas vidas são perdidas para o câncer, algo cuja cura para nós é banal. Como vou desparecer em breve, gostaria de deixar um presente para vocês. Veja este recipiente”. Nesse momento, um prolongamento se formou na névoa, levando até a mão do Adolfo um objeto com o formato aproximado de uma caneta, que Adolfo apanhou.
“Esse recipiente tem aquilo que vocês chamam de vacina. Trata-se de uma dose única, para ser aplicada em um ser humano e, caso ele esteja com câncer, será curado. Mas, creio que seus cientistas conseguiriam analisar a substância que está nesse recipiente que lhe dei e replicá-la para ser produzida em laboratório. Existe, portanto, a chance desse meu presente curar toda a humanidade do câncer. Veja que existe um botão em uma extremidade do recipiente. Ao apertá-lo, a substância curativa será expelida por uma pequena agulha na outra extremidade”.
Adolfo só teve tempo de balbuciar uma pergunta ao Sep: “Mas, você acha que conseguiremos reproduzir essa vacina? Afinal, ela veio de outro planeta!”.
Sep, já no final de sua existência, ainda conseguiu responder: “Não há certeza, mas uma boa chance. Existem cientistas brilhantes em seu planeta...”.
Em seguida, Sep e sua névoa desapareceram no ar. A esfera permaneceu ali, dentro da pequena cratera formada pela sua queda.
Adolfo pensava intensamente naquele episódio, com mais vigor do que pensara antes sobre qualquer coisa. Não foi um sonho. Aquele objeto alienígena estava em sua mão. A esfera estava ali, a poucos metros. A cura do câncer! O sonho da humanidade há séculos! Milhões de vidas poderiam ser salvas! Seu câncer e o do amigo Rafael curados! Bastava que aquela única dose fosse entregue aos cientistas e esperar que eles conseguissem produzi-la na Terra. E se não conseguissem? E para quem seria entregue a “caneta”? Para o presidente do Brasil? Para o presidente dos Estados Unidos? Ou da China? Ou, talvez, para a ONU?
Adolfo ficou longos minutos pensando o que fazer, com a caneta na mão e olhando para aquela esfera. Ela certamente contém tecnologias desconhecidas. Será que ele conseguiria vender aquilo? Será que ele ficaria famoso por entregar a caneta e a nave? Mas, o que adiantaria se a vacina não pudesse ser duplicada e ele morresse em seguida, sem possibilidade de cura?
A noite continuava escura. Fazia frio. Adolfo sozinho no meio da mata, sem ninguém para dividir o incrível episódio. Finalmente, resolveu agir. Arregaçou a manga, espetou a caneta em seu braço e injetou a vacina.
Enterrou a nave e a caneta ali mesmo e voltou para casa, aliviado e com a consciência tranquila.
Publicado em 28.dez.23.
Cinco covers com sentido – I
Já escrevi neste desmesurado blog sobre a questão dos covers (ou das covers? Nunca sei o gênero certo, o que é perigoso nos dias de hoje). Resumindo o pensamento outras vezes exposto pelo Eremita, covers gravadas por bandas profissionais só têm sentido se trouxerem algo de novo em relação à original. Essa é minha opinião e faço questão de mantê-la porque é a única que eu tenho.
Dois exemplos do que chamo de covers com sentido são “Your song” e “Blue moon”. Ambas receberam regravações que deram vigor às originais, que eram mais melancólicas. “Your song”, do Elton John é, na voz de seu autor, uma balada sentimental; já a gravada por Billy Paul é uma versão soul, alegre e dançante. Ambas são ótimas, cada um com seu valor. Idem para “Blue moon”, um baladão anos 30, com arranjo jazzístico, da dupla de compositores de musicais da Broadway Rodgers and Hart. Em 1961, o grupo vocal The Marcels (que nome!) lançou sua versão, com um arranjo mais bem-humorado e que acabou ficando a mais conhecida entre as centenas de regravações existentes. Uma delas, por Elvis Presley.
Vale a pena mencionar a origem do termo “cover”. Existem, na verdade, duas possíveis origens históricas. Uma delas vem do fato de que, no início da massificação da venda de discos, havia uma pulverização de gravadoras no Estados Unidos, cujo alcance era regional. Sendo assim, era comum que uma mesma música fosse gravada por uma diversidade de artistas e arranjos, para expandir suas chances comerciais, ou seja, covers pra todo lado. A outra origem seria mais polêmica e até mesmo associava um tom pejorativo ao termo “cover”. Em um país declaradamente racista, com segregações explícitas entre negros e brancos americanos, que incluíam até mesmo estações de rádio e o tipo de música que tocavam, muitos sucessos entre a população negra eram regravados por músicos brancos, ou seja, recebiam uma “capa” (um dos sinônimos de “cover”), para torná-los conhecidos e vendáveis para os brancos. Que feio, não? Ainda bem que nós não somos um país racista (N. do E.: a última frase deve ser lida com conotação irônica!).
Após esse introito, vamos à primeira porção de covers que tem sentido. Listei as primeiras cinco que me vieram à cabeça, além das já citadas “Your song” e “Blue moon”. O que importa é que a ideia da postagem é divulgar boa música e dar dicas de audições. Tem muito mais exemplos, é claro, e, se esta postagem explodir em popularidade como todas as outras que escrevi, devem vir sequências por aí.
Vamos às primeiras cinco:
“With a little help from my friends” – Joe Cocker, 1969
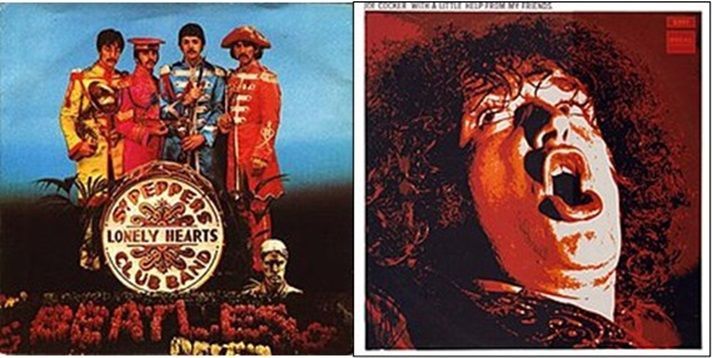
Esta é o grande exemplo das covers que fazem todo o sentido. É a cover “benchmarking” (desculpem-me o termo, mas é que antigamente eu lia a revista Exame). Joe Cocker gravou-a em seu disco de estreia, que tem essa música como título. Pegaram uma das músicas menos marcantes dos Beatles (lá vem porrada...), gravada em 1967 e fizeram um lindo arranjo, transformando-a quase em um hino religioso. Cover bom é assim, fica melhor do que a original.
“Cause we ended as lovers” – Jeff Beck, 1975
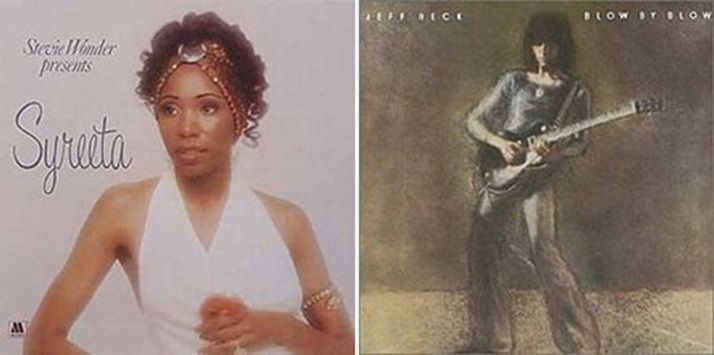
A cover com sentido está no disco Blow by Blow, do Jeff Beck. É uma versão instrumental de uma música de Stevie Wonder, cuja primeira gravação é da cantora Syretta Wright, em 1974. A original não chamou muito a atenção, tanto que não é muito famosa. Jeff Beck fez uma recriação, que virou um clássico e passou a ser presença frequente em seus shows. Outro destaque é que ele dedicou essa faixa ao Roy Buchanan. Para quem não conhece esse brilhante guitarrista americano, vale a pena dar uma olhada séria na publicação d’O Eremita sobre ele (http://arquivosdoeremita.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Roy-Buchanan-v-8.1.pdf).
“Visionary Mountains” - Manfred Mann’s Earthband, 1975

A banda do tecladista Manfred Mann iniciou suas atividades nos anos 60. Era um grupo que fazia um Pop psicodélico. A partir dos anos 70, ele formou a Manfred Mann’s Earthband, de Rock Progressivo, produzindo ótimos álbuns. O melhor deles é o Nightingales & Bombers, um dos poucos a serem lançados no Brasil. A Earthband tinha um talento especial para inovar e transformar canções de outros autores. São vários os exemplos. Mas, o ápice é “Visionary Mountains”. Poderia se dizer que é a obra-prima dos covers. A versão original é da cantora inglesa Joan Armatrading e está no seu álbum de estreia, de 1972. Tem menos de dois minutos e, em uma audição corrida do álbum, não chama muito a atenção. Provavelmente a única cover desta música é a da Manfred Mann’s Earthband, que fez uma transformação digna de um joalheiro, pegando o diamante bruto e lapidando-o, até virar brilhante.
“Help!” - Deep Purple, 1968
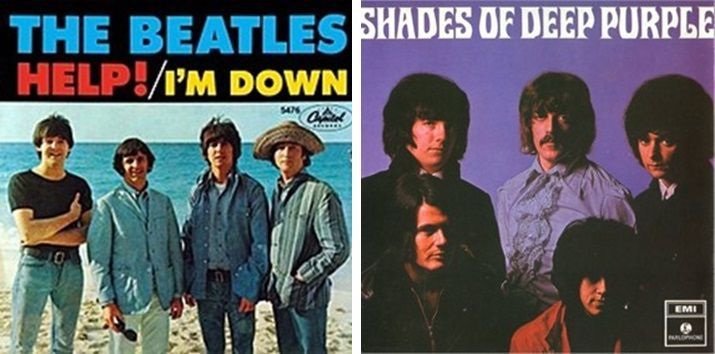
Mais uma dos Beatles, esta, de 1965. Desta vez a versão é do Deep Purple, presente no disco de estreia da banda, de 1968, Shades of Deep Purple. Aqui, preguiçosamente, transcrevo o comentário publicado na microbiótica obra “Discografia Comentada do Deep Purple”, disponível no site “Os Arquivos do Eremita”. Esta cover está aqui presente por dois motivos (apesar do que texto que segue): (1) ela tem o espírito que eu reputo (êpa!) nas covers, pois traz uma visão diferente da original; (2) eu tinha de dar um jeito de colocar alguma coisa do Deep Purple nessa postagem, aproveitando o fato de eu ser meu próprio chefe e não ter que dar satisfações a quem possa me acusar de “protecionismo” com minha banda preferida:
Uma releitura curiosa da música dos Beatles, em andamento lento e tom melancólico. Segundo consta nas biografias dos Beatles, essa era a ideia original, que combinaria mais com o sentido da letra, que trata de alguém com problemas, pedindo ajuda. Mas, apesar da boa ideia, a execução do Purple não é muito entusiasmante. Exageraram um pouco na dramaticidade, especialmente o vocalista Rod Evans, que tinha essa tendência, algo que deve ter contribuído para sua saída da banda. De novo o problema que se repetiria muitas vezes nos dois primeiros discos: perde muito quando se compara com a versão original. A gravação de “covers” era também uma característica da banda americana Vanilla Fudge, cujo som claramente influenciou o Purple na fase inicial. Cabe aqui um comentário sobre “covers”. O caso da Help eu reputo como uma tentativa válida, a de regravar uma música tentando acrescentar algo ou modificar a versão original, dando uma nova roupagem. O Vanilla Fudge também criava arranjos para suas versões. Isso é aceitável. De que adianta regravar uma música, repetindo-a nota por nota? Isso, infelizmente, é a situação mais comum que encontramos. Nos anos noventa houve uma onda de discos tributo, quando músicos variados se reuniam para gravar covers de bandas ou artistas famosos. Em geral, as covers eram simples repetições dos arranjos originais, sem nenhuma novidade. Qual é o valor artístico disso?
“Hello Hooray” – Alice Cooper, 1973
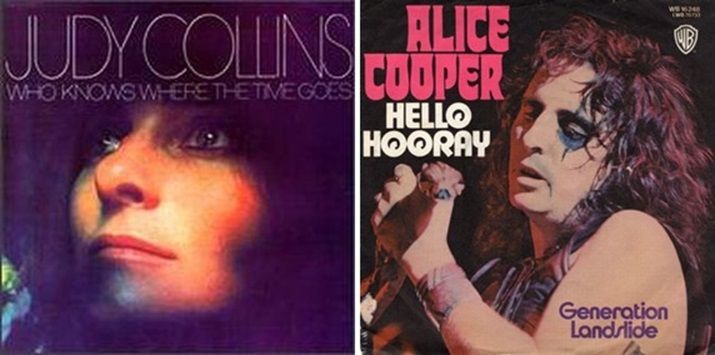
Originalmente gravada pela cantora americana Judy Collins, em 1968. É também a faixa de abertura do excelente disco Billion Dollar Babies, do Alice Cooper. Já na época, Alice Cooper tinha um bom repertório, mas, gostava tanto dessa música que a escolheu para abertura do álbum e dos shows. Foi ela que abriu as apresentações da turnê que passou pelo Brasil em 1974, promovendo o álbum. A versão de Alice tem um ar meio cabaré. Ele gostava do visual e da mise-en-scène dos musicais de Hollywood. Uma prova disso é o seu show solo “Welcome to my nightmare”, de 1976, que saiu em DVD muitos anos depois e que mostrava Alice fazendo todas aquelas coreografias padrão do vaudeville (cartola, bengala e dancinhas típicas), de uma breguice extrema. Mas, no fim das contas, o que vale é a cover, que ficou excelente.
Publicado em 30.nov.23.
Um tratado reflexivo dissertativo investigativo definitivo e ensaístico (com vários comentários entre parêntesis) sobre nomes das bandas de Rock
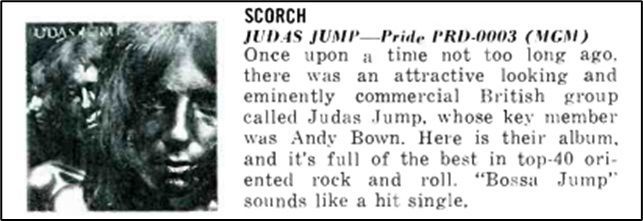
Como todo o mundo (bem, talvez com a exceção dos alemães) sabe, este blog pretende ser escalável, resiliente, disruptivo e empático. No momento ainda estou buscando entender o que significam essas palavras, mas, assim que eu descobrir as coisas vão mudar por aqui. Não deve ser difícil, pois todo mundo cita esses nomes em tudo quanto é tipo de conversa, portanto, logo logo, estarei desruptivando, escalando, empaticando e resilientando fortemente.
Vamos então, após essa delonga, falar sobre o relevantíssimo assunto dos nomes de bandas de Rock.
Cem por cento dos músicos quando resolvem formar uma banda quebram a cabeça procurando o nome ideal, aquele que seja original e, ao mesmo tempo, reflita o espírito da banda. Bobagem. Qualquer nome serve, qualquer nome é bom, eu garanto. Depois que vem o sucesso, então, tanto faz o nome. O exemplo que sempre uso é o da banda americana The Doors. Os Portas. Alguém teria coragem de sair por aí propagandeando sua banda se ela se chamasse “Os Portas”? Eu sei, eu sei. Tem gente que vai sabichionar e dizer – “mas, são ‘As Portas’, por conta do livro ‘As Portas da Percepção’” (Autor: Aldous Huxley, aliás, um nome e tanto, hein?). Mesmo assim, não muda muita coisa. “As Portas” seria igualmente inviável.
Traduzir nomes nem sempre dá certo, é verdade. Para os de língua americana talvez “The Doors” não soe tão esquisito. Mas, nós tupiniquins, quando resolvemos traduzir os nomes, surgem coisas muito mais esquisitas do que “Os Portas”. O baterista Ginger Baker, por exemplo. Literalmente, seu nome seria “Gengibre Padeiro”!
Resumo da ópera, voltando pro tema inicial: para bandas de Rock, o nome pouco importa. Tanto faz batizar aquela sua banda bacana e ainda injustamente não reconhecida como “Amoras Amorais”, “Os Protéticos Patéticos” ou “O Debacle da Exegese”. Nenhum desses nomes será empecilho para o sucesso. Confiem n’O Eremita, o sabichão.
Depois de toda essa dialética evaporativa, vamos provar a tese d’O Eremita por meio de uma análise de nomes de bandas que existiram ou ainda existem e que merecem algum comentário pândego d’O Eremita. Lembrando que o que segue exigiu muita pesquisa e consultas a analistas de mídias sociais e influenciadores contabilistas. Um trabalho exaustivo, mas gratificante.
Antes da Internet era muito difícil obter informações sobre as bandas de Rock pelo planeta, daí encontramos algumas coincidências de batismo, o que serve como desculpa justificável. Outras não, foi falta de inspiração e de vergonha na cara mesmo.
Começando por Judas Priest, que parece ser um nome bem escolhido e original. Só que existiu uma banda chamada Judas Jump, também inglesa. O Judas Jump fez a abertura do festival da Ilha de Wight, em 1970 e pouca coisa mais.
O mesmo vale para ZZ Top. Antes do trio dos barbudos, existiu um artista chamado ZZ Hill, também Texano!
Um caso bastante curioso é o nome da banda mais do que famosa Kiss. A banda americana dos caras-pintadas, sempre foi associada a uma irreverência provocativa e até já foi associada a ligações demoníacas (quando estiveram no Brasil, chegaram a publicar que o nome era a sigla para “Knights In Service of Satan”, vê se pode). Mas, um fato que, provavelmente, a maioria dos fãs não atenta, é que eles se chamam “Beijo”! Fofo, não? Poderia até ser o nome de algum grupo de Axé. Mas, a verdade é que o Kiss, comercialmente deu muito certo, em uma clara demonstração que o nome não importa. O que importa é que uma banda, também americana e surgida anos depois, escolheu o nome de “Kix”. Como diria o Shemp, uns espertinhos, hein?
Muitos nomes parecidos como esses podem gerar confusão para a comunidade Rockeira, então vou dar uma mão por aqui:
- o guitarrista-monstro Rory Gallagher não fez parte da dupla Gallagher & Lyle (sei lá que som que eles fazem/fizeram, só conheço de nome);
- a banda Wishbone e a banda Ash não foram formadas pela divisão do Wishbone Ash. Esta última é uma excelente banda inglesa, da qual sou fã. As outras duas, não faço ideia de quem são, só conheço de nome;
Mais exemplos de bandas cujo nome é encurtado em relação a de outra (os nomes das duplas não estão pela ordem de antiguidade):
- Greenslade e Slade, com a ressalva que a primeira deriva do nome de seu fundador, Dave Greenslade;
- Mahogany Rush (formado em 1972) e Rush (que é de 1974). Curiosamente, ambos são canadenses;
- The Guess Who e The Who;
- Nazareth e Nazz;
- Quiet Riot e Riot (banda campeã das capas horríveis);
- Earth, Wind & Fire e Earth & Fire;
- Queensryche e Queen.
Repetindo o que escrevi em algum lugar, não se preocupe com a criatividade na hora de escolher o nome de sua banda. Todas as citadas aqui prosperaram, umas muito mais do que as outras, mas, o fato de haver nomes semelhantes não interferiu em nada na carreira delas.
Outros nomes trazem mais confusão ainda, pois não são só semelhantes, são iguais! Exemplos:
- Skid Row e Skid Row. A original foi uma das primeiras bandas a contar com Gary Moore. A outra, bem, a outra é a outra;
- Nirvana e Nirvana. A primeira é uma banda inglesa que esteve ativa entre 1966 e 1971 e lançou cinco álbuns de estúdio no período. Um deles tem o curioso e sintético título de: “The existence of chance is everything and nothing while the greatest achievement is the living of life, and so say all of us”. Bem, o segundo Nirvana dispensa apresentação;
- Mr. Big e Mr. Big. A primeira surgiu na Inglaterra nos anos 70 e chegou a lançar alguns discos. A segunda surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e chegou a lançar alguns discos;
- Smokie, The Smoke e Smoke. Este é um adendo à postagem original, porque eu havia me esquecido do trio que formava a “Esquadrilha da Fumaça”. O Smokie é um grupo inglês, formado em 1964. Entre os três, foi o que fez mais fumaça (ai...), tendo gravado mais de 10 álbuns ao longo da carreira (aqui, sem trocadilho). The Smoke, também inglês, é de 1965, com uma vida bem mais curta. Só lançou um LP e uma porção de compactos. Não tinha muita lenha pra queimar (ai, ai...). O mais novinho dos três é o Smoke, este americano, surgido em 1992 e que produziu dois LPs. Seu sucesso foi meio que fogo de palha (ai, ai, ai...).
- e, para finalizar, Alkatraz e Alcatrazz. Os nomes são escritos de modo um tantinho diferente, é verdade, mas, obviamente, dá pra confundir. A primeira é uma banda galesa, que tem um álbum apenas, lançado em 1976. Um dos seus músicos participou da também banda galesa Man (olhaí outro nome dos bons). A segunda banda a homenagear o famoso presídio (que gosto, hein?) foi formada por Graham Bonnet (cujo sobrenome pode ser traduzido, na sacanagem, como “gorro”), em 1983, após deixar o Rainbow. Grande banda, o Alcatrazz. Depois de trabalhar com Blackmore, Bonnet se acostumou com guitarristas-monstro e teve no Alcatrazz o até então desconhecido Yngwie Malmsteen, sucedido por nada menos do que Steve Vai.
Publicado em 25.nov.23. Em 25.dez.23 foi acrescido o parágrafo da "Esquadrilha da Fumaça".
Separados no nascimento, versão d’O Eremita – 2

Em 06.jul.14, O Eremita comparou alguns jogadores da Copa com personagens diversos, brincando com essa importante vertente cultural dos tempos atuais, que faz confrontações engraçadinhas entre as semelhanças físicas de celebridades. A ideia não era que aquela memorável postagem de 2014 virasse uma série, mas, a vida é cheia de mistérios, segredos e boletos. Portanto, como diria Robespierre, bola pra frente e vamos com uma sequência batuta.
Pois bem, toda vez que eu olhava para o político Flávio Dino, me vinha aquela sensação – de onde eu conheço esse cara? É lógico que eu nunca o conheci, porque O Eremita não se encontra com pessoas, ainda mais com políticos, mas, aquele rosto gorducho sempre me pareceu familiar. Não é que hoje, por conta de um encontro astrológico e antológico raro, minha memória foi iluminada e eu consegui fazer a conexão? Dino é a versão em carne (muita) e osso do Peter Griffin, da série de animação “Family Guy”, que, no Brasil, foi batizada como “Uma família da pesada”. Não é só a fisionomia que é parecida. Ambos nos divertem com suas trapalhadas. Só que, no caso do Peter, não tem maiores consequências para este nosso povo heroico, que não foge à luta.
Publicado em 31.out.23.
Cinco capas infames de cinco bandas famosas – 2
Após o sucesso da Parte 1 desta série - que resultou em um convite ao Eremita para a próxima Flip, delicadamente declinado, pois eremitas não vão a lugares – nada mais natural do que partir para a Parte 2. Um gancho esperto no final deixará uma sutil indicação de uma possível sequência da série.
Rainbow – Down to Earth (1979)
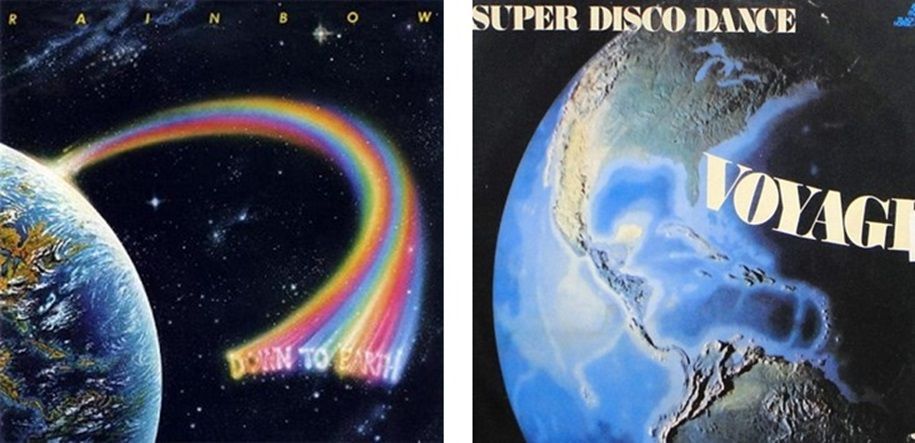
Um grande disco do Rainbow, com o excelente vocal do Graham Bonnet, mas com uma capa infantil demais. O que seriam aquelas coisas coloridas que formam a frase “Down to Earth”? Cometas, asteroides, esteroides, anabolizantes? Disco bom, capa ruim. Me lembra demais a capa do grupo (?) de disco music Voyage, de 1977. Eles, pelo menos, foram mais coerentes. Disco ruim, capa ruim.
Whitesnake – Snakebite (1978)
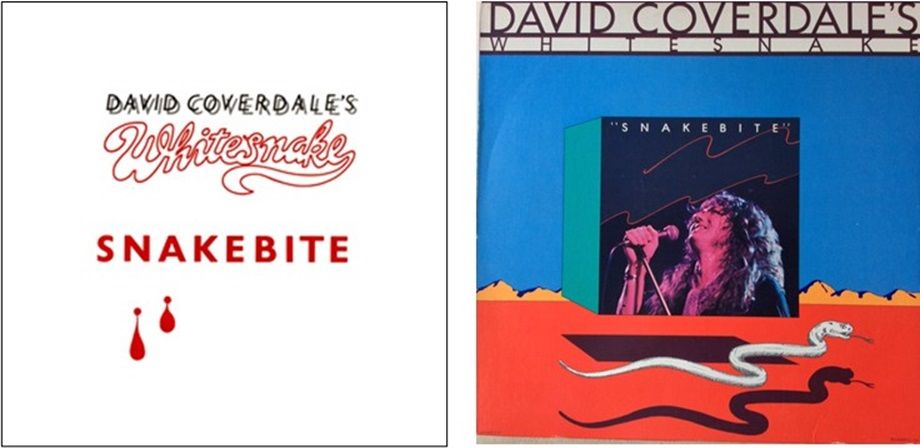
Originalmente, o disco Snakebite foi lançado como um EP (Extended Play), com os quatro primeiros registros da banda Whitesnake. A capa do EP não era algo que entraria nos anais (êpa!) das belas capas, mas, não comprometia. Quando o disco foi lançado nos Estados Unidos, inseriram quatro faixas do álbum Northwinds, segundo disco solo de Coverdale, transformaram o Snakebite em um LP e criaram uma capa nova, histórica. Histórica porque entrou para a antologia das capas como uma das mais medonhas de todos os tempos. É uma capa nada a ver. Sim, não há nada para se ver nela. Um fundo desértico bastante realista, com uma lombriga branca de porte avantajado e que tem o misterioso dom de flutuar e, no meio, uma foto de Coverdale, que também flutua em um cubo perfeitamente integrado à paisagem. Uma lindeza.
Yes - Time and a Word (1970)
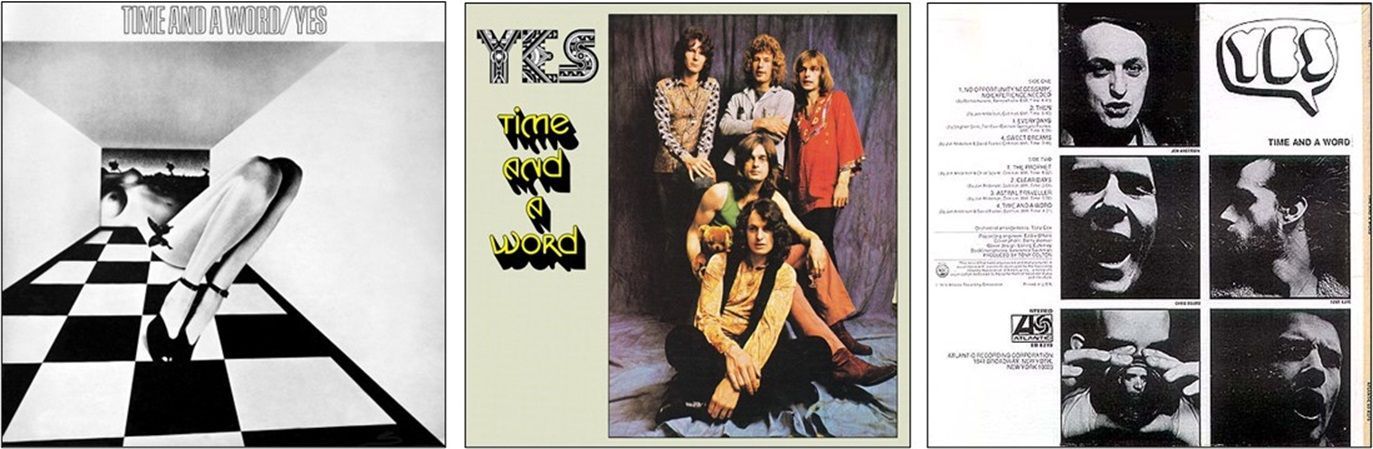
Esta capa tem um causo por trás. O guitarrista original do Yes, Peter Banks (objeto de uma postagem triste neste blog, em 23.fev.14) teve discordâncias com o resto da banda porque não queria que houvesse uma orquestra na produção do disco e por isso saiu. A versão do Eremita é diferente (e inventada) – ele saiu por causa da capa!
Um ambiente geométrico com uma mulher nua descabeçada sendo expelida do fundo da paisagem, tudo em preto e branco e com um grafismo rústico. Seria razoável aceitar uma capa desse nível da banda “Os Desprovidos de Senso Estético”, mas não do Yes.
O curioso é que, mesmo horrível, a capa causou controvérsias nos Estados Unidos por expor um corpo nu, algo até então inédito em obras de arte (com o perdão do uso do termo para este caso). A capa foi alterada para a versão americana, passando a apresentar uma foto do grupo.
A curiosidade sobre a capa não para aí. A foto escolhida traz Steve Howe, que substituiu Peter Banks, mas não participou do disco! Para piorar, a contracapa não foi alterada e trazia a foto de Peter Banks! Mais uma vez, os americanos fizeram arte!
Emerson, Lake & Palmer – Love Beach (1978)

Esta vai ser rápida porque se trata de uma presença obrigatória quando se fala em capas ruins. Apesar do cenário e do figurino emprestados da série de TV Magnum, de total incoerência com o som e o passado da banda, esse disco chegou às 500.000 cópias vendidas. Pesquisa do Datafolha mostrou que boa parte dos que compraram este disco pensaram estar levando para casa a trilha sonora original da crível série Havaí 5.0.
Stevie Wonder – Songs in the Key of Life (1976)
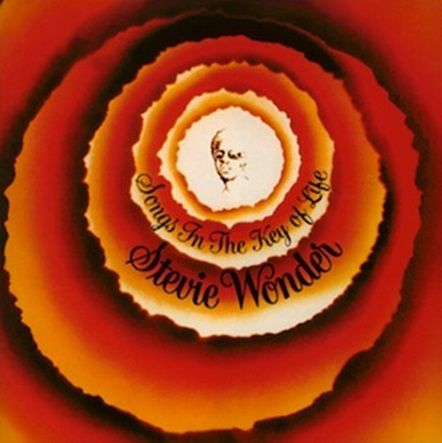
Aqui temos um caso que não é de uma banda. Mas, a capa merece fazer parte desta coleção. Este é um disco constante na lista dos melhores de todos os tempos, mas é poupado quando se fazem listas sobre as piores capas de todos os tempos. Parece ter sido feita na década de 40, só que para uma caixa de bombons. Tem disco cuja capa ajuda a vender, mas este vendeu muito (mais de 5 milhões de cópias), apesar da capa.
Aguardem a Parte 3.
Publicado em 31.out.23.
Olho atento na mídia - 3

Tem gente que acha que os eremitas formam uma casta de adivinhos. Não é de se estranhar, pois neste mundo tem gente que acredita nas maiores quimeras, como achar que não tomar vacinas é uma decisão ousada e inteligente. Mas, o fato é que eremitas são muito ruins de adivinhação e aqui vai uma prova.
Em janeiro de 2020, neste esmeraldino blog postei a parte 2 da série “Olho atento na mídia”, em que comentei as coleções de CDs do jornal Folha de São Paulo. Segue reprodução de um teco dessa postagem:
“Portanto, como foi citado, além dessa, que aborda o Soul e o Blues, já tivemos coleções de Jazz, MPB, música clássica e até de Rock’n’Roll (pela já referida editora Altaya). Gostaria de saber por que até hoje não lançaram uma coleção sobre as grandes bandas de “Classic Rock”. Poderia ser uma coleção desse tipo, ou seja, CD + livreto, abordando as 20 bandas mais importantes (em termos de qualidade musical) do Rock. Já deixo aqui lançada a ideia (entulhemos a caixa postal da Folha com pedidos!) e, também, minha sugestão de lista dos 20 nomes (oh, não, eu não estou fazendo isso, uma lista! Sim, sim, farei, é mais forte do que eu...Quase tão forte quanto a mania dos parêntesis excessivos).
Segundo minhas definições de “Classic Rock” e “qualidade musical”, os nomes são: Deep Purple, Black Sabbath, Yes, King Crimson, Gentle Giant, Genesis, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Uriah Heep, Free, Bad Company, Rainbow, Whitesnake, Gillan, Kansas, UFO, Premiata Forneria Marconi, Aerosmith, Pink Floyd e Jethro Tull. Se alguém estranhar a ausência de nomes consagrados como The Who, Kiss e Queen, esclareço que foi um esquecimento meramente proposital.”.
Pois bem, e não é que a Folha lançou há poucos dias, a coleção “Rock Stars”, com, segundo o jornal, “as maiores lendas do Rock em 20 livros”? Até aí, O Eremita foi bem, pois previu com muita antecedência esse lançamento. Nessa época, eu ainda tinha meu “bolanet”, ou seja, eu pegava “emprestado” o sinal da bola de cristal da caverna ao lado. Meu vizinho, entretanto, descobriu e deu o fim ao empréstimo (de forma pouco civilizada, eu diria). Por outro lado, entre as duas listas só houve três coincidências: Sabbath, Zeppelin e Floyd! Três em vinte não pode ser considerada uma boa previsão. Talvez para um economista seja um bom índice, mas não o suficiente para confundir eremitas com adivinhos.
São várias as escolhas questionáveis – porém, defensáveis – que a Folha fez. Mas, duas são como as faltas que O Eremita batia quando jogava futebol – absolutamente indefensáveis: Ramones e Red Hot Chilli Peppers. Considerando os nomes que ficaram de fora, a inclusão desses dois em uma lista de 20 seria como considerar “Os Três Patetas no Exército” como um dos melhores filmes de todos os tempos.
Quase, Folha, quase. Não foi por pouco, mas, quase.
Publicado em 26.out.23.
A mímica do futebol

O Eremita adora futebol. Mais especificamente, assistir a um futebol, porque não há como montar times de eremitas para disputar umas peladas, por razões óbvias. Já tentei organizar um torneio entre eremitas, mas nem ao menos um time foi possível montar. Foi frustrante, mas um eremita se alimenta de frustrações. Infinitas frustrações. Desde a contínua observação do desgostante comportamento humano, até o fato de existirem outras pizzas que não as de mozzarella, passando por coisas como: haveria algum sentido lógico na letra de “Stairway to Heaven” ou seriam frases recortadas aleatoriamente da redação de uma colegial da quarta série?
Ao longo de sua longa vida, o Eremita já viu milhares de partidas. Ultimamente, a mímica (maldita mímica!) do futebol está tirando um pouco do prazer em assistir aos jogos entre times brasileiros. Ouso discorrer sobre o tema daqui para frente.
Quais seriam as mímicas mais irritantes?
Ah, são muitas! Nem vou falar sobre as comemorações de gol ensaiadas porque aí é o óbvio ridiculante.
Mas, tem uma porção de outros exemplos, muito comuns, lamentavelmente.
Vou começar pelo Hino Nacional. Um dos quatro símbolos da República. Antes de entrar na mímica – qual é o sentido de cantar o Hino antes de jogos de futebol nacionais? Tudo bem, parece que tem uma lei sobre isso, mas, por acaso jogo de futebol é uma atividade cívica? Cantar o Hino antes de votar teria mais sentido. Para O Eremita, tocar o Hino antes do jogo serve para duas coisas: atrasar o início da partida e proporcionar a lamentável mímica dos jogadores que fingem que estão cantando. Reservem o Hino Nacional para as ocasiões certas, pô!
Vamos aos casos mais mundanos. Por exemplo, cuspir. Deve estar no contrato dos jogadores de futebol que, enquanto estiverem em campo, tem que cuspir o tempo todo. Coisa nojenta! Jogadores reservas quando entram, a primeira coisa que fazem é dar uma cusparada no gramado. Algum dia, algum desses brilhantes atletas vai ter uma iluminação: “Ei, a gente fica cuspindo e depois acaba rolando nessa grama!”. Nojento e desnecessário. Podem parar, porque têm crianças que assistem aos jogos.
O goleiro fez uma boa defesa? Ah, então ele vai cair e ficar se contorcendo até ser atendido. Tudo bem fazer isso de vez em quando, para dar uma esfriada no adversário e, por que não, valorizar a defesa. Mas, do jeito que está hoje, até parece que está na regra do futebol - defendeu, cai e contorce. Uma chatice. O jogo para um tempão, a câmera fica mostrando a cara de dor do goleiro, os demais pegam água da maleta do massagista (e cospem depois, é claro). Tudo mímica.
E o escândalo pós-falta?
Jogador brasileiro quando recebe falta tem a mesma reação de alguém que foi atropelado por um elefante. Se joga, esperneia, urra de dor, faz caretas de agonia, uma tragédia. Mesmo que tenha sido um mero esbarrão. Outra reação ridícula é, após receber a falta e se levantar, fazer gesto e cara de desdém, do tipo “assim não dá, eu quero jogar, mas esses caras não deixam”. Só que no lance seguinte esse mesmo desdenhudo faz uma falta ainda pior.
Uma novidade na mímica pós-falta é a de bater a mão no chão, para enfatizar que está sentindo uma dor infernal. Jogadores brasileiros podem fazer bicos de atores e de dublês no cinema, pela sua capacidade de simulação de emoções e quedas espetaculares. Também tem a recuperação espantosa, pois logo depois de estrebuchar como se um órgão interno fosse arrancado sem anestesia, ele se levanta e retorna para o jogo, para protagonizar a próxima simulação.
Falando em falta, o tempo para a cobrança quando se forma a barreira é uma coisa ridícula. Dá para pegar uma cerveja na geladeira, tomá-la e ainda fazer o respectivo xixi no tempo entre a marcação do árbitro e a batida na bola, que, invariavelmente, fica na barreira. Para tornar a encenação mais grotesca e demorada, agora tem um jogador que fica deitado atrás da barreira. Fico pensando se eles treinam isso. Alguns depoimentos imaginários: “Luan Ruan, você está escalado para ficar deitado como elemento surpresa atrás da barreira!”, disse o técnico-professor Junior Filho. “O professor pediu que eu tivesse atenção na hora de ficar deitado atrás da barreira!”, disse o jogador Bratislava Capixaba. “O jogador Robespierreilson já ficou deitado atrás da barreira dezenove vezes. Está liderando esse quesito na estatística mundial. É um especialista!”, comentou o comentarista Sigismundo Raimundo. “A bola passou pela barreira, mas parou no jogador Junior Isabelison, que estava deitado. Ele comemora como se fosse um gol!”, narrou o narrador Manoel Manuel.
Jogador brasileiro adora apontar. Se ele salvou um lance perigoso, sai apontando ao léu (não confunda com um jogador chamado Léo), sendo que não tem ninguém prestando atenção nele. Quando sai do banco e entra em campo, vai logo apontando ao acaso em várias direções, como se coordenando todo mundo. Técnico também gosta de apontar. O jogo rolando, os jogadores concentrados na bola e ele, lá na lateral do meio de campo gesticulando convulsivamente, como se alguém estivesse vendo aquilo e, os que eventualmente olhassem, pudessem entender aquela mímica desconexa.
Técnico brasileiro também gosta de ficar andando para lá e para cá. Detalhe: só fazem isso quando a bola está parada, porque sabem que aí é que a câmera vai focalizá-los e aquela coisa de ficar andando dá uma pinta que ele é agitado, que está bolando novas estratégias revolucionárias e que depois as vai transmitir por meio daquela gesticulação amalucada e incompreensível.
Outra coisa que enche o saco é a risadinha irônica. O cara perde o gol a meio centímetro da trave e aí dá uma risadinha, como se dizendo: “É, são coisas que acontecem. Acidente de trabalho. Normal. Mas, eu sou bom”. Ou então dá uma fortíssima canelada na bola, que passa a uns 200 metros do gol e então põe a mão na cabeça ou olha pro céu, como se fosse um cara azarado, ou que tenha perdido um gol por pouco quando, na verdade, ele não passa de um belo de um perna de pau.
Outra bobeira é o cara que faz um gol em que ele apenas encosta o pé na bola a alguns milímetros antes da linha, sem nenhum esforço, sem ninguém por perto e aí sai comemorando em êxtase, como se houvesse salvado o planeta de um ataque de alienígenas.
Para finalizar, e as reclamações desesperadas? O time pode não estar jogando nada, levando um baile, mas, se há dúvida em um lateral no meio de campo ou se o árbitro não der um cartão, começa um escândalo dentro de campo e no banco de reservas, com todo mundo gritando e gesticulando como se aquilo fosse um novo assalto ao Banco Central. Está cinco a zero pro adversário, são 44 do segundo tempo, mas, aquele lateral ou cartão fariam toda a diferença.
Vão jogar bola! Chega de mímica!
Publicado em 18.out.23.
Jonah Hex e os Irmãos Outono
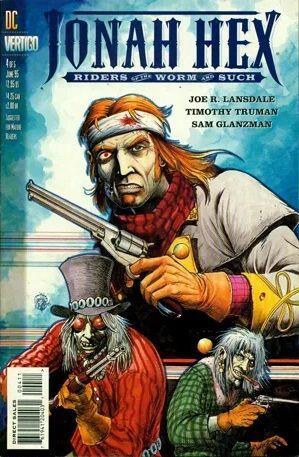
Em 03 de fevereiro de 2020 postei, dentro da série “Letras Líricas”, um texto com um pouco da história dos irmãos Winter, Johnny e Edgar. É meio que um segredo, mas sendo O Eremita um anarquista, vou revelar aqui que “winter” em Inglês, significa “inverno”. E vou além: “autumn” é “outono”, também em Inglês.
Jonah Hex é um personagem de história em quadrinhos, ambientada no velho oeste americano. Jonah é um caçador de recompensas, com o rosto deformado. Existe um filme do Jonah Hex, de 2010, com Josh Brolin fazendo o papel título.
E o que tem uma coisa a ver com a outra? Ocorre que em uma edição do Jonah Hex aparecem os personagens dos Autumn Brothers. Mais uma lambuja: “brothers” pode ser traduzido como “irmãos”. Portanto, temos “Os irmãos Outono”, o que poderia ser uma coincidência inocente em relação aos “Irmãos Inverno”. Isso aconteceu na história “Riders of the Worm and Such” (capa reproduzida aqui, assim como uma das páginas da história), uma provável alusão à música “Riders on the storm”, dos Doors. Mas, os fatos dos irmãos Winter serem retratados na história do Jonah como albinos e ainda tendo um dos personagens, de nome Johnny (hummm...) de cartola (usada por um bom tempo nos palcos pelo guitarrista), ficou claro que era uma referência aos velhos blueseiros texanos. A coisa chata é que a dupla, nos quadrinhos, é de vilões.
O que poderia ser encarado com bom humor ou mesmo uma homenagem (meio torta, é verdade) acabou resultando em um processo na Justiça americana: Winter Brothers X Autumn Brothers. A sentença saiu em 2003, dando ganho de causa à DC, editora da história do Jonah Hex, com base na liberdade de expressão, a famosa primeira emenda da Constituição americana. Dura Lex, Jonah Hex (hummm...).

Publicado em 30.set.23.
Eric Was There
O Eremita já comentou que gosta de um filme. Isto é, não de um filme específico, mas de muitos. Um dos estilos preferidos d’O Eremita é o Film Noir, sobre o que pretendo dedicar uma postagem um dia desses. Segure a ansiedade, multidão.
Esta postagem é para reproduzir uma publicidade do álbum “E.C. Was Here”, disco ao vivo de Eric Clapton, de 1975. Tal publicidade é baseada na ambientação dos Films Noir. Achei que ficou muito legal e que valia a pena dividir com o meu magote. Afinal, como eremita, não tenho ninguém que me controle e me alerte sobre a qualidade das postagens, então, aí vai. Deixe seu like e faça sua inscrição, ok?

Publicado em 30.set.23.
Pitorescas pictóricas - 1

Lá vou eu iniciando uma série que tem tudo para não passar da postagem única. Desta vez, fotos. Nesta série poderão ser retratadas (êpa!) imagens tiradas de publicações (como é o caso desta que abre a série) ou algum dos registros fotográficos deslumbrantes que O Eremita tira com sua câmera fotográfica de precisão.
O que temos aqui? Uma reunião um tanto insólita. De um lado, o Rei. Do outro, Alice Cooper. Essa foto não foi tirada quando Alice esteve no Brasil, em março-abril de 1974, para promover o álbum “Billion Dollar Babies”. O encontro foi fotografado em 1975, em Gotemburgo, na Suécia (ah, a Suécia... dizem que tem cavernas ótimas por lá). Gostou da foto? Vale um “like”?
Postado em 28.set.23
Grandes Eremitas

Peculiar, essa classe dos Eremitas. Podem ser classificados de formas tão distintas como solitários, altruístas, pensadores, escroques, disposofóbicos, sobrancelhudos, misantropos e economistas.
O que poucos sabem – e aqui, novamente, este blog contribui para desvendar mais um segredo misterioso, desconhecido e inédito - é que a maioria dos eremitas deixou grandes contribuições para a sociedade.
Listo aqui algumas dessas intervenções corajosas de tão honrada categoria:
Fila indiana
Foi o eremita Antonius Pietrus Hugus o responsável por organizar as filas de uma forma racional. Até então, as pessoas não sabiam como se comportar, formando turbas disformes, ou então se postando umas ao lado das outras, o que ocupava um espaço e tanto. Esses agrupamentos malformados dificultavam a prestação dos serviços, entre outras coisas. Foi Antonius quem inventou o conceito de ficar uma pessoa atrás da outra, por ordem de chegada, de modo que cada um fosse atendido na devida vez. Ele batizou provisoriamente sua invenção como “brócolis”. Depois de testá-la e ver que funcionava bem, rebatizou-a de “ficar um atrás do outro”. Foi só no Século XX que essa invenção recebeu o nome definitivo de “fila indiana”, por conta das enormes filas que se formavam nas portas dos cinemas da Índia para assistir os filmes de Indiana Jones. Além dessa primordial invenção, o único registro que o honorável Antonius deixou para a humanidade foi uma frase: “De nada, hein?”.
Sim e não com a cabeça
Em tempos idos, não havia um padrão para os movimentos de cabeça, no que diz respeito ao que significava sim e o que queria dizer não. Imaginem os transtornos que isso gerava quando, por exemplo, o habitante de uma aldeia ia pagar uma conta no vilarejo vizinho e nele os moradores usavam a forma inversa de sinalizar sim e não com a cabeça. Praticamente todas as atividades humanas tinham algum nível de comprometimento pela falta de conformidade nesse ponto. Em algumas regiões da Catalunha os habitantes desenvolveram um meio termo, na tentativa de minimizar essa confusão. Eles usavam um movimento de cabeça em diagonal, que significava “talvez”. Coube ao eremita Shempus Larrius Mocorlius dar um fim nessa confusão e criou o que ficou conhecido como “O Protocolo Caputiniano”, onde, finalmente, ficou definido que a translação vertical da cabeça significava “sim” e a rotação horizontal, “não”. Graças a esse protocolo, o mundo iniciou sua gloriosa jornada ao desenvolvimento e à civilização. Hoje, em qualquer lugar do mundo, todos usam esses dois sinais para expressar suas vontades e opiniões. É verdade que têm historiadores e sociólogos que defendem que existem na Alemanha e no Espírito Santo (isso mesmo, no Brasil) recônditos onde ainda se praticam, de forma deliberada e anárquica, gestos inversos aos do protocolo. Independente disso, o fato é que o mundo precisa, a todo momento, agradecer a Shempus, um dos grandes eremitas da história. Por gentileza, sinalize um “sim” com a cabeça em memória a Shempus.
O aperfeiçoamento da peneira
A humanidade desconhece Maxwellus Smartus, que, como eremita, foi um dos maiores anônimos do planeta. Mas, ele foi o responsável por uma invenção basilar (na verdade, foi mais um aperfeiçoamento): a instalação da redinha nas peneiras. Até que o empreendedor Smartus tivesse a epifania de incorporar a redinha, a peneira era um objeto praticamente inútil. Nada mais do que um simples arranjo de um aro com um cabo. As lojas de utilidades do lar ficavam atulhadas de peneiras encalhadas, devido à baixa demanda dos consumidores. Ao saber dessa dificuldade, expressa por um caixeiro-viajante que foi fazer uma consulta filosófica a Smartus, este dedicou grande parte de sua experiência em meditação para dar uma solução ao problema. Foi então que, inspirado pelas redes dos gols de sua mesa de futebol de botão (que, por sinal, nunca foi usada, por falta de parceiros - eremitas sofrem), que ele lançou a ideia de incorporar uma rede àquele desastre do design que era o modelo antigo de peneira. Pronto! Começou ali mais uma revolução nos costumes mundiais, originada por um eremita. E vocês achavam que sabiam das coisas. Quando forem comer espaguete, lancem um pensamento de gratidão ao velho Maxwellus Smartus.
Os antis
Os exemplos de contribuições eremíticas são muitos. Se eu recebesse por lauda, listaria um monte deles. Prefiro aproveitar o espaço para comentar alguns casos em que os eremitas deram bolas fora.
Por exemplo, o eremita Vilanovus Ludovicus Molustus. Embora ele tenha criado algumas coisas relevantes, como a palavra “chofre” e o uso da cordinha para pendurar o provolone, também tem uma contribuição que envergonha a classe: a invenção da poesia. Ele percebeu que certas palavras rimavam, como Zé e pé, e daí desandou a escrever frases que terminavam rimando umas com as outras, mesmo que não fizessem nenhum sentido. A invenção acabou pegando. Muita gente, por razões misteriosas, gosta dela até hoje. Vilanovus passou o resto dos seus dias em agonia, refletindo que, embora sua criação tenha sido um sucesso, qual seria a verdadeira utilidade daquilo?
Outra vergonha para a classe foi Delfinus Nettus, conhecido como o “Renegado Bestalhão”. Ele foi o responsável por várias coisas vergonhosas. Começou quando ele criou um plano infalível para exterminar a corrupção no mundo, mas acabou vendendo os direitos por uma quantia indecente de dinheiro para a máfia suíça.
As vergonhas não ficaram por aí. Delfinnus foi (ai, que vergonha) o criador e principal entusiasta do “terraconismo”, teoria que defendia que o planeta Terra tinha a forma de um cone, sendo o Everest o seu vértice.
Após tantas vergonhas causadas à causa, finalmente Delfinus largou o eremitismo, seduzido por um cargo de auditor da Receita Federal, que ele conseguiu graças a um político que achou que valia a pena investir nos eremitas como um curral eleitoral. Felizmente (ou infelizmente, agora não sei), Delfinus foi o único a abandonar sua vocação e se tornou um economista. Virou auditor do Imposto de Renda. Ele liderou um levante entre seus pares e conseguiu na Justiça que os auditores tivessem a dedução integral das despesas com educação dos dependentes, apesar de, ironicamente, ele e seus colegas terem a justamente (ou injustamente, agora não sei) a função de fiscalizar se todos os demais estavam deduzindo apenas a parcela estabelecida pelo governo.
Virou um mito, no mau sentido do termo. Vergonha é pouco! Traidor! Renegado! Renegado e bestalhão! Ele não pode nem se aproximar de uma das cavernas do condomínio dos eremitas, pois corre o risco de levar uma pedrada na cabeça. Eremitas são assim - não declaram imposto de renda, pois não a tem, mas se doem pelos outros.
E tu?
Eventualmente alguém pode estar se perguntando – e você, Ó Eremita? Qual foi sua contribuição para a constar na galeria dos grandes eremitas. Respondo na bucha: nenhuma! É lógico! Afinal, como eu disse no início, a maioria dos eremitas deixou contribuições para a sociedade. Ora, para haver uma maioria, tem que ter uma minoria, dã!
Publicado em 25.set.23.
Quer dizer que só porque é de graça não vai comprar?
O Eremita continua tentando agradar e produziu mais uma coisa - a Linha do Tempo do Rock. Embora o título seja deveras preciso, vale a pena dar uma detalhada. Nessa nova publicação temos uma linha do tempo, que fala sobre Rock. Portanto, se você gosta de linhas, de tempo ou de Rock, fique à vontade para baixar. É de graça! É só clicar aqui.
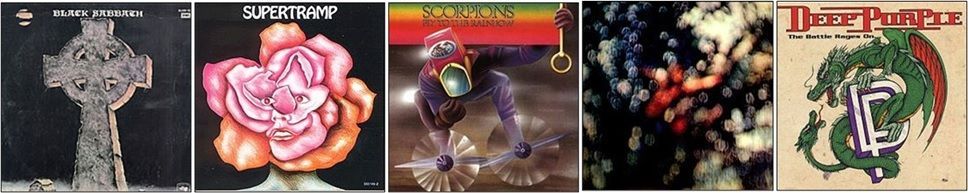
A partir do final dos anos 60 as capas dos álbuns de Rock se tornaram uma espécie de complemento à música, fundindo-se ao som produzido pelos artistas. Desenhistas, fotógrafos, artistas plásticos ficaram conhecidos pela beleza de suas criações eternizadas nas capas dos LPs. Muitos álbuns são mais conhecidos pela arte da capa do que pelo nome oficial, como é o caso do “disco da vaca”, do Pink Floyd. O tempo gasto admirando as capas enquanto os discos rodavam no prato era um prazer adicional à audição. Para mim, a única perda do CD em relação ao LP é essa – a redução na intensidade de explorar e admirar a arte das capas.
Mas, às vezes, rolaram grandes pisadas de bola, com capas de gosto duvidoso, mesmo entre as bandas famosas. Não vou entrar no universo das capas horríveis de um modo geral, porque aí os exemplos tenderiam ao infinito, principalmente entre as bandas de metal nem tão famosas, que têm ilustrações que não vale nem a pena comentar.
Vamos então para as cinco escolhas desta primeira série:
Black Sabbath – Headless Cross (1989)
O Sabbath é o campeão de capas ruins entre as grandes bandas. Quase todas seus discos poderiam entrar aqui, incluindo as dos trabalhos solo do Ozzy, mas a de Headless Cross é a campeã. Desenho tosco e infantil. O orçamento da produção do disco devia estar curto. A sorte da banda é que os fãs são milhões e não estão nem aí pra arte da capa.
Supertramp – Supertramp (1970)
O Supertramp tem que dar graças porque sua música melhorou, assim como suas capas, senão, teria sido muito difícil chegar ao sucesso. Essa capa, do seu primeiro álbum, é de doer. Será que os caras da banda viram o desenho antes? Como deixaram isso acontecer? Ou, vai ver, o desenhista era cunhado do dono da gravadora e eles tiveram que deixar desse jeito. Eu deveria pesquisar quem fez essas cinco capas, mas, preferi seguir pelo meu descalibrado senso estético. Mesmo que algumas dessas capas tenha sido desenhada (ou fotografada) pelo novo Michelangelo, eu acho todas as cinco mais feias do que um Klingon.
Scorpion - Fly to the Rainbow (1974)
Esta então é um desafio ao entendimento. O que temos aqui? Um cara com uma roupa meio astronauta, meio escafandrista, supostamente voando com uns sapatos com hélices e puxando uma espécie de banner colorido. Quem é ele? O “Capitão Escorpião”? Ou o “Tipo Escafandrista Voador”? Alguém poderia pensar – esse desenho aí é efeito de droga. Eu diria que é uma droga de um defeito. Capa danada de feia. De quem será que era o cunhado que desenhou isso? Pensando bem, deve ter sido o filho de um cunhado, que na época deveria estar na 5ª série.
Pink Floyd – Obscured by Clouds (1972)
Justo o Floyd, que é dono das capas mais famosas do Rock, me veio com uma dessa. Se o propósito da capa é ajudar a vender o disco, esta fracassou forte. Uma foto desfocada ao máximo, que não transmite ideia nenhuma, além de ter cores chochas. Não chega a agredir os olhos como as anteriores, mas, também é bem ruinzinha. Deve ter custado barato, porque não precisa de muito esforço para tirar uma foto ruim. Eu mesmo estou habituado a isso.
Deep Purple – The Battle Rages On (1993)
O Purple é outra banda que não tem em seu portfólio exemplos de belas capas do Rock, embora também não tenha estampado coisas constrangedoras em seus discos. Esta é a exceção. Pegaram o pouco inspirado logotipo criado no retorno da banda, em 1984, e conseguiram piorá-lo, deixando-o magrinho e com aqueles traços que, nas normas ISO de desenho, significam brilho e os tascaram por toda a superfície. Como diria o Dr. Smith: “Horrível”! Para completar, dois dragões em estilo tatuagem aparecem brigando (seriam Gillan e Blackmore?), enroscados no logo. Se mostraram essa capa ao Roger Dean ele deve ter sentido náuseas.
BÔNUS (mas não é pra acostumar): Como aproveitar bem um símbolo
O disco mais bem sucedido do Whitesnake, aquele de 1987, trouxe na capa um medalhão (bem desenhado, diga-se entre parêntesis), que acabou sendo de grande relevância para a banda. Tão relevante que o Coverdale não quis saber de largá-lo mais e enfiou o tal medalhão em tudo quanto é disco que apareceu. Segue uma seleção de algumas dessas capas com o medalhão. Abunda, criatividade, abunda!

Publicado em 22.ago.23.
Desvarios linguísticos eremitosos
Atenção: o texto abaixo é completamente isento do uso de inteligência artificial. O leitor (se é que haverá algum) pode se considerar desafiado a encontrar qualquer traço de inteligência, de qualquer natureza, nas palavras que seguem.
Ser um Eremita é cismar. Entre as minhas muitas matutações, está a nossa língua. Trouxe aqui uma reunião desordenada de palavras, frases e exemplos curiosos que O Eremita vem colecionando ao longo dos anos a respeito do nosso respeitado idioma.
Eu, particularmente
Já notaram como essas duas palavras costumam ser citadas juntas? É uma parceria desnecessária. Afinal se sou eu, só pode ser particularmente. Não tem como ser eu, coletivamente.
Amigo pessoal
Outra coisa redundante. Tem como ser amigo impessoal? Se a pessoa é seu amigo, o pessoal já está implícito! Para de andar com esse “pessoal” aí!
Baseado em fatos reais
Se é baseado em fatos, eles só podem ser reais. Ou existem fatos imaginários?
Imagens meramente ilustrativas
Mas, para que outra coisa serviria uma imagem se não para ilustrar? Cantar, dançar, declamar?
Verduras orgânicas
Há alguns anos começaram a aparecer esses rótulos no supermercado. Até então, pelo jeito, o mundo inteiro vinha consumindo algum tipo de verdura inorgânica. Talvez uma espécie de clone sintético da verdura verdadeira, natural, daquelas que nascem na horta. O problema é que, por ser orgânica, essa verdura é mais cara, o que me parece justo.
Saudável?
Outro dia me deparei com um aviso na geladeira do restaurante: era uma placa que anunciava os sorvetes e que tinha uma linha separando alguns sabores, com o aviso de que aqueles eram “sorvetes saudáveis” (tem a foto por aí - ainda não sei onde vou botar). Portanto, pelo meu simplório raciocínio, concluo que os demais sorvetes daquela geladeira não eram saudáveis. Bom evitar.
Mudando de tema
Saindo dos pleonasmos, o português tem umas palavras que a gente só usa em uma situação específica. Por exemplo, arrepio. Ele não significa somente aquele tremelique que sentimos quando temos frio ou quando os pelos ficam eriçados. Quando juntamos “da lei”, muda tudo. Ao arrepio da lei! O mesmo acontece para solução. Pode ser tanto aquilo que resolve um problema, quanto um soluço grande. Mas, se juntar a “de continuidade”, aí muda tudo. "O blog d’O Eremita sofreu uma solução de continuidade por motivos de exigência popular". Esquisitas essas coisas, não? Tem mais um monte desses exemplos, mas, lamentavelmente, não me lembro de mais nenhum agora. Velhos são esquecidos.
Sobrevoo
Outra palavra que incomoda O Eremita: sobrevoo. “Agora o repórter vai fazer um sobrevoo no local do acidente”. É lógico que se alguém vai passar voando, será sobre alguma coisa. Portanto, por que sobrevoo e não só voo? Mesmo forçando a imaginação, não consigo enxergar um voo pelo meio ou por baixo de alguma coisa. Sempre é por cima, sobre. Não dá para ser um subvoo! Aliás, ficou uma palavra engraçada, não? Subvoo!
Aterrissagem e a sabedoria dos cachorros
Quando o avião ou o helicóptero pousa, ele aterrissa, certo? E ser for um pouso na água? É aterrissa também? Isso é mais uma dúvida do que uma cisma. Fica esquisito, não? Aterrissou na água! Essa história sempre me deixou com a pulga atrás da orelha. Mentira! Eu nunca tive uma pulga atrás da minha orelha! Por que será que quando cunharam essa expressão instalaram a pulga em um lugar onde ela nunca fica? Será que ela foi importada dos movimentos caninos? Porque os cachorros sim, ficam com pulgas atrás da orelha. Basta observar como eles vivem coçando aquela região (e também outros lugares, tadinhos). Humm, pensando bem, incorporamos outra expressão do, de fato, melhor amigo do homem – ficar de orelha em pé. Assim como coçar atrás das orelhas, para nós humanos é praticamente impossível ficar com as orelhas em pé. Preciso debater esse assunto com o Professor Pasquale – a influência canina na Língua Portuguesa. Isso tem mais sentido do que pode parecer em uma primeira olhada. Os cachorros estão cada vez mais inteligentes. Tanto que, nas bancas do centro da cidade, são vendidos jornais especialmente para eles, os cachorros. Tem uma foto disso também. Procure perto da do sorvete.
Palavras engraçadas
Português tem umas palavras realmente engraçadas. Gostaria de conhecer o inventor das palavras “arvorar”, “escanhoar”, “exegese”, “debacle” e “tergiversar”. Sempre tento inserir alguma nos meus textos, mas, desisto. Acho que tira um pouco a seriedade dos meus escárnios.
Ambiguidades
Uma coisa que eu admiro na nossa língua é como as frases podem ficar dúbias se as palavras não forem colocadas na ordem certa, ou com a pontuação no devido lugar. Por exemplo, se um homem disser a frase: “Me separei faz cinco anos. Desde então tenho namorado”, não dá pra saber se ele se desiludiu com a instituição do casamento e passou a apenas namorar, ou se ele resolveu mudar de preferência sexual e arrumou um namorado. Seguem mais casos desse tipo de dubiedade, desta vez extraídos da mídia.




Publicado em 09.jul.23
Curiosidade cambial d’O Eremita
Houve um tempo em que neste nosso país, de um povo heroico, a imagem do cruzeiro perdeu muito de sua resplandecência. Era a era da inflação alta. Mega. Giga. Tera inflação. Você ia no mercado de tarde comprar cerveja e quando voltava, à noite, o preço já havia subido. Se você é jovenzinho e não entende o que O Eremita está falando, pergunte aos seus avós.
Mas, este não é um blog que serve apenas para O Eremita verter sua acarpetada cultura. Aqui não apenas se fala, mas se prova. Por volta de 1982, a inflação no florão da América era tamanha que uma instituição financeira publicou em revistas de circulação nacional uma publicidade na qual eram encartadas moedas reais de cruzeiros. Êpa! Ficou confuso aqui. As moedas eram reais, ou seja, eram moedas de verdade, feitas de metal, iguais às que circulavam na praça. Só que nossa moeda corrente na época não era o real, era o cruzeiro. Portanto, eram moedas de cruzeiro e eram reais! Acho que agora fico claro. De todo modo, segue a reprodução da propaganda em questão, onde a presença das moedas pode ser confirmada. Imaginem o quanto custou essa campanha, por menor que fosse o valor real do cruzeiro (Êpa! De novo!) naquela ocasião. Coincidência ou não, consequência ou não, o banco que bancou essa publicidade foi à falência.

Publicado em 04.jul.23.
Rabugices d’O Eremita – 1

Tem muita coisa errada neste mundo. Vou resolver tudo. Algumas, menos importantes, serão corrigidas aqui mesmo. Esse é o caminho. Começar pequeno e ir avançando. Não tardará e os grandes problemas mundiais serão solucionados após o simples batucar de teclas pelo Eremita. Ser propositivo é preciso. Ser enérgico é preciso. Ser preciso é preciso. E, acima de tudo, ser rabugento é preciso.
1) O solo de “Comfortably numb”
Começando por essa história hegemônica de que o solo de David Gilmour em “Comfortably numb” é o melhor já gravado. Um dia alguém falou isso e colou. Ninguém discute. É esse e acabou. Temos aí nada mais do que uma nova comprovação da teoria do “Espelho infinito”, proposto pelo filósofo catalão Ostinato Fallace. Segundo ele, um objeto exposto em frente a um conjunto de espelhos devidamente arranjados passa a ser refletido eternamente. Ou seja, se ninguém ousar mexer, aquilo será reproduzido para sempre. Só que não. O Eremita está dando uma bica de direita nesses espelhos agora mesmo. Crás! Conheço dezenas de solos melhores, com todo respeito ao sr. Gilmour, de quem sou fã, que fique bem claro. O primeiro disco solo dele foi comentado – e muito elogiado – neste basculante blog, em postagem de um longínquo 24.mar.08. Eu poderia citar vários solos de vários guitarristas que considero acima da unânime obra em questão, mas vou centrar em um só cara: Ritchie Blackmore, o favorito d’O Eremita. Vamos a alguns dos registros de Blackmore que batem, respeitosamente, o solo de Gilmour: “Child in time” (do “In Rock”); “Highway star” (do “Machine Head”); “Burn” (do disco homônimo); “Pictures of home” (de novo, “Machine Head”) e vários outros (nem citei os criados no Rainbow, por exemplo). Porém, o melhor de todos os solos de Blackmore, na minha indigna opinião, é o que finaliza “Mistreated”, do disco “Burn”. Aos que se sentirem contrariados pela minha colocação, peço apenas que ouçam os dois e os comparem. Não conheço solo mais belo e emocionante que o parido por Blackmore em “Mistreated”. É claro que, se mesmo assim, alguém não mudar de opinião, tudo bem. Paciência... Maldito Fallace!
2) Cornucópia discográfica
Era uma vez um milionário. Sua fortuna veio de uma herança e ele sabia como aproveitar sua condição financeira folgada. Até que virou fã de uma banda de Rock. Começou a comprar os discos de tal banda. Fez a coleção completa dos LPs, na época que essa era a principal mídia disponível. Como tinha muitas posses, aproveitava as viagens constantes ao exterior para comprar os singles que eram lançados pelo mundo, às vezes com capas diferentes, às vezes sem capa específica, mas com o selo diferente do original e todos esses detalhes em que colecionadores se amarram. Ah, também comprava as fitas cassetes que saíam, embora elas tivessem repertório idêntico ao do LP e som pior. Comprava até coletâneas de grupos variados, desde que, pelo menos uma das faixas fosse com a banda favorita. Tudo isso com folga de caixa, afinal, ele era rico. Aí surgiram novas mídias: fitas de vídeo cassete, CDs e DVDs. Globalização. Gravações em todas as mídias eram lançados em todo lugar. Mesmo assim, com uma boa rede de contatos, nosso colecionador continuava a expandir seus itens. Podia-se dizer que ele tinha tudo da banda. Aí veio a Internet. O acesso à mídia física ficou mais fácil e, agora, havia também a mídia virtual. Nosso amigo milionário mantinha a rotina diária de pesquisar sobre sua banda e comprar tudo que surgia. Até que a banda acabou. Por um lado, uma tristeza, porque não haveria mais álbuns novos. Por outro, ele tinha tudo. Poderia esnobar à vontade sua coleção espetacular. Entretanto, com o passar do tempo, começou um movimento semelhante a uma avalanche. Um lançamento de um concerto inédito aqui, uma coletânea produzida em um país exótico ali (como, por exemplo, no Brasil), a inclusão de uma música em uma trilha sonora de filme... Após essas primeiras pedras rolarem, a queda foi engrossando. Começaram a aparecer mais gravações ao vivo, oficiais e piratas; shows surgiam em versões inéditas em DVD; discos com ensaios e outras sobras de estúdio eram lançados. E o nosso amigo comprando tudo. Surgiram as caixas, com dez ou mais discos, acompanhados de reproduções de ingressos, cartazes de show e até camisetas. Nosso personagem era um fã, dos mais obcecados. Não podia ficar sem qualquer item que surgisse, pois, afinal, eram o logo e o nome de sua banda que estavam estampados ali. As rochas voavam em grande quantidade - a avalanche se configurava. Remasterizações dos discos originais; remixagens especiais; versões em mono dos primeiros discos; caixas com os vinis coloridos e capas recriadas por artistas famosos; discos-tributo de músicos do mundo inteiro; novos relançamentos dos discos originais, desta vez em Blu-ray! Pedras, pedras e mais pedras para cima do nosso pobre consumidor. Eu disse pobre? Sim, ele passou a morar isolado, sem posses, em uma casa modesta. Teve que vender tudo para continuar alimentando sua coleção. Mas, ele não se desfazia de modo nenhum de suas preciosidades. Elas ficavam em um dos cômodos da casa e ele usava o outro para viver. Nem internet tinha mais, por falta de dinheiro para pagar a conexão. Esse isolamento acabou sendo um alívio, pois assim ele deixou de saber sobre as novidades de sua adorada banda. Até que um dia viu um cartaz na rua: um novo disco de seus ídolos seria lançado! “Mas, como?”, pensou, “todos os músicos já morreram”! Lê então no rodapé do cartaz que o disco foi todo gerado por meio de inteligência artificial! As vozes dos falecidos foram replicadas e músicas foram criadas baseadas nos registros que a banda deixou de herança. E, aproveitando os recursos da nova tecnologia, serão lançados discos dublados em cada língua falada no mundo!
Aquilo foi demais para ele.
Sem sentido. Ele descobrira que toda sua vida havia sido sem sentido. Foi para casa e botou fogo em tudo. Inclusive em si.
3) Espremeção dos nomes das bandas
Vou arrumar mais uma coisa por aqui. Bandas veteranas só podem continuar a usar o nome original se tiverem pelo menos um dos músicos fundadores em atividade. Agora é lei! Foi longe demais essa história de se aproveitar de nomes consagrados para venderem shows e discos. O Lynyrd Skynyrd é a minha banda americana favorita, de longe. Mas, com a morte de Gary Rossington, eles tinham que parar, ou mudar de nome. A conexão com a origem da banda foi perdida. Agora é só uma excelente banda cover. Só que não é um caso isolado. Isso é uma praga. Começou com The Sensational Alex Harvey Band, que em 1976, lançou um disco SEM o Alex Harvey! Hoje essa patifaria está em uma frequência crescente, com o inevitável passamento dos músicos das bandas formadas nas décadas de 60 e 70. Tiveram o descaramento de reativar o Thin Lizzy SEM o Phil Lynott! E tem mais exemplos de nomes espremidos até a última gota, só para morder uns trocados dos admiradores saudosos. Não me lembro de outros casos neste momento. Mas, não faz mal. Estou proibindo essa prática velhaca de hoje em diante. A implacável regra já está valendo. E sem discussão, porque eu sou ranheta, ranzinza e rabugento!
Publicado em 04.jul.23.

Vilipendiando as capas – 6
Lá vai O Eremita cismando com as capas, de novo! Gente que não tem o que fazer fica postando bobagens internet afora. Só que, meu caro, não é meu caso, claro. Os comentários sobre capas de discos d’O Eremita são textos que atingem milhares de pessoas do mundo, principalmente na Alemanha e no Espírito Santo.
Desta vez, a implicância vem com as tentativas de chocar as pessoas usando nas capas dos discos anjos em situação de decadência. Ou então religiosos em conspurcação. Quem se incomoda com isso? Na vida real temos exemplos muito mais perturbadores de pessoas fazendo maldades horríveis, religiosas ou não. Ninguém mais (dentre as que tem uma mente que sabe processar corretamente uma informação) se sente ultrajado por uma ilustração como as que vemos aqui. O que é verdadeiramente ofensiva é a realidade.
Já que chegamos até aqui, vamos falar de algumas capas. Selecionei quatro que tem o mesmo tema – mostrar figuras angelicais fazendo coisas erradas. No caso, fumando. Fumar realmente é errado. O Eremita odeia cigarros. Se a intenção das capas fosse reforçar subliminarmente o antitabagismo, seria maravilhoso. Mas, os mesmos músicos que estão por trás das capas costumeiramente aparecem fumando nas fotos.
Temos então as capas do Black Sabbath (capa ruim, para variar, mas disco magnificente), de 1980; do Van Halen (mesmo ano) e do BBM (1994), em que aparecem anjos fumando. Para completar o time, o disco do Bad Company (1988), com uma criança fumando. Todas gerando um choque de 6 volts, enquanto basta acessar o noticiário de hoje (ou de ontem, ou de amanhã) para receber descargas de 220 volts na cara.
Para finalizar, umas palavras sobre o BBM. Esse CD saiu no Brasil. Chama-se “Around the Next Dream”. O nome da banda é formado pelas iniciais dos sobrenomes de seus componentes: Jack Bruce; Ginger Baker (o anjo na capa) e Gary Moore. Ou seja, dois terços do Cream, mais o Gary Moore, meu segundo guitarrista preferido. Infelizmente, os três já falecidos. Trata-se de um ótimo disco. Composições, arranjos, produção, instrumental e vocais de primeira. Gostas de Rock? Então gostarás de BBM.
Publicado em 01.jul.23.
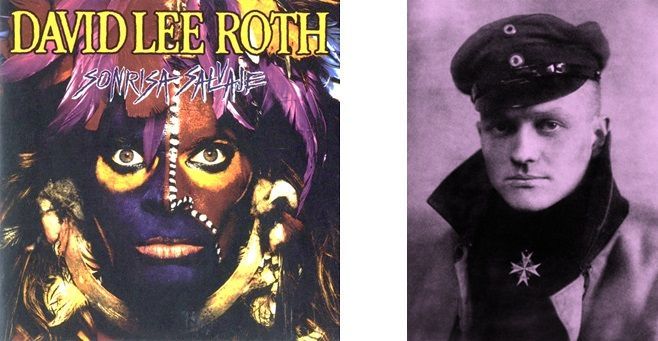
Discos estranhos da coleção do Eremita – 7
Esta postagem não resistiria a uma auditoria, nem que fosse feita pela PwC, pois, apesar do que diz o título, O Eremita não tem nenhum dos dois discos aqui citados. Fisicamente, é claro, pois eu não comentaria sobre os discos sem nem ao menos tê-los escutado. Já passei dessa fase!
Mas, o fato é que ter os discos apenas em arquivos MP3 não contradiz o título, pois como pregava Heráclito de Éfeso, quem disse que existem regras por aqui?
Os discos em foco foram escolhidos porque têm a mesma característica - existem gravações em duas versões: em inglês e em espanhol. Isso é relativamente comum em outras áreas da música popular, como nos casos dos brasileiros Nelson Ned, Roberto Carlos e Falcão (lembremos de sua grande obra “El dinero no lo es todo pero es el cien por ciento”), que têm discos em português e na língua espanhola. Mas, no Rock, são só esses dois casos (ou melhor, de acordo com o novo padrão jornalístico brasileiro, são “pelo menos” dois casos): David Lee Roth, com o “Eat ‘em and Smile” e o Baron Rojo com o “Volumen Brutal”.
O fato de serem obras, digamos, bilíngues, não é o único motivo de estarem aqui. São dois álbuns que se destacam pela qualidade. Um deles é um bom disco e o outro é excelente. A lembrança de comentá-los aqui foi a presença de ambos na mais recente postagem de “Vilipendiando as Capas”, que acabou se tornando a mais famosa da série, arrebatando vários prêmios de conteúdo cultural na Alemanha e no Espírito Santo.
“Eat ‘em and Smile” é de 1986 e é um disco curto - só tem 31 minutos. Mas, tem uma densidade de 80% de músicas boas. Das dez faixas, só considero duas como medíocres (sendo preciso no uso do termo). Quatro são regravações e as demais são de Roth e Steve Vai. Este, ao lado do baixista Billy Sheehan fazem miséria no instrumental. O disco é alegre, pra cima e tem duas covers bem fora do padrão. Uma é “That’s life”, cuja principal versão é de Frank Sinatra, mas também foi gravada por uma das confessas influências de Roth, o artista ítalo-americano Louis Prima. A outra é “I'm easy”, da dupla australiana Billy Field e Tom Price e que apareceu em um obscuro disco solo do primeiro, de 1981. Não tenho ideia de como Roth descobriu essa música, mas o fato é que ele gostava do tal Field, pois regravou outra dele no disco “Diamond Dave” (2003). Ambas são daquelas canções típicas de shows em cassinos americanos e, apesar de contrastarem com o resto do disco, tem uma produção muito boa e são agradáveis de ouvir.
No mais, temos excelentes exemplos de Hard Rock, sendo as minhas preferidas “Elephant Gun”, “Shy boy” (esta originalmente presente no segundo disco da Talas, banda anterior de Sheehan) e “Ladie’s night in Bufallo”, que tem um solo magnífico de Vai. Conselho de Eremita: se não conheces este disco, procures ouvir, que, provavelmente, gostarás.
Pois bem, além do disco normal, em inglês, resolveram lançar um em espanhol. O título ficou “Sonrisa Savage” (cuja tradução tem grande chance de ser “Sorriso Selvagem”). O nome original vinha de um slogan de uma antiga marca americana de doces e, provavelmente por isso, acharam que uma tradução direta do título ficaria sem sentido para os latinos. Toda a parte instrumental foi mantida, apenas os vocais foram substituídos, com as letras adaptadas. Vale destacar que, nas duas versões, David está cantando muito bem. Eu assisti ao Van Halen no Ginásio do Ibirapuera em 1983 (naquela época eu ainda saía da minha caverna) e também tive oportunidade de ouvir alguns piratas da turnê do “Eat ‘em and Smile” e, não sei se foi coincidência, mas em todas as ocasiões, o vocal dele estava bem abaixo (beeem abaixo) do apresentado em estúdio.
O “Sonrisa Savage” foi um fracasso de vendas, então acabou virando um item raro. Nunca vi uma versão em CD, mas, isso não quer dizer que não exista. O fato é que, entre as duas versões, eu fico com a original. A letra em inglês se casa melhor com as melodias, o que é natural, pois foi o ponto de partida das composições. Em geral, alguma coisa sempre se perde nas traduções.
Vamos então para o “Volumen Brutal”, que não teve seu nome traduzido na versão em inglês, talvez para não gastar dinheiro para refazer a arte da capa. Eu diria que a tradução para o inglês teria grande chance de ser “Brutal Volume”.
Este é o segundo álbum (foi lançado em 1982) dessa banda espanhola, cujo nome homenageia um piloto alemão da Primeira Guerra, famoso por matar muita gente. Não é o tipo de homenagem que eu concorde, mas, quem sou eu para opinar?
O “Volumen Brutal” foi gravado no Kingsway Records, cujo dono era Ian Gillan. Colin Towns, tecladista da banda de Gillan participa discretamente em uma faixa. O Baron Rojo faz um Hard Rock de bom nível, com riffs e melodias ligeiramente acima da média das bandas da década de 80. Este disco fez o caminho inverso do “Eat’em and Smile”. Foi composto em espanhol e convertido para o inglês. As duas versões foram lançadas concomitantemente. Segundo a lenda, foi Bruce Dickinson (que andou frequentando o Kingsway por conta do Samson, sua antiga banda) quem ajudou na tradução. Assim como no caso anterior e assim como diz a regra (que não precisaria existir por aqui, conforme dito em algum lugar), a versão original é melhor. Um dos motivos é que não tem como disfarçar o sotaque. Na música “Concierto para ellos”, em que a banda faz uma homenagem aos seus ídolos no Rock, citando Janis, Lennon, Allman, Hendrix, Bolan, Bonham, Brian, Moon e Bon Scott, são mencionados, ainda, o Whitesnake e o Rainbow, este pronunciado com um R bem acentuado (“RRRainbow”). Mas, o que importa é o som. Gosto muito dessa faixa e, também, da “Son como hormigas” (traduzido para “Termites”). Assim como no caso do Dave Lee Roth, O Eremita recomenda a audição deste disco também na versão original, de preferencia (o “preferencia” não está acentuado porque quis terminar com uma expressão em espanhol, para acompanhar o clima do texto).
Publicado em 01.jul.23.
Vilipendiando as capas – 5
Já estava na hora da volta do Rock neste espesso e escasso espaço. Nem que seja para falar das capas dos discos. O longo período sem que O Eremita postasse nada resultou em um acúmulo de itens para serem comentados, então passemos à desova.
Pensando que são milhares e milhares de discos lançados todos os anos, é razoável supor que possam existir capas parecidas. O que dificilmente dá para saber é se a semelhança foi uma coincidência, ou uma homenagem ou, ainda, um reles plágio. Neste lote temos uma variedade de temas: capas copiadas; capas com (provavelmente) homenagens; capas de nomes ou ilustrações curiosas ou de gosto duvidoso e uma capa antológica. Vale observar que nem todas estão ligadas ao Rock, mas, quem disse que existem regras por aqui?
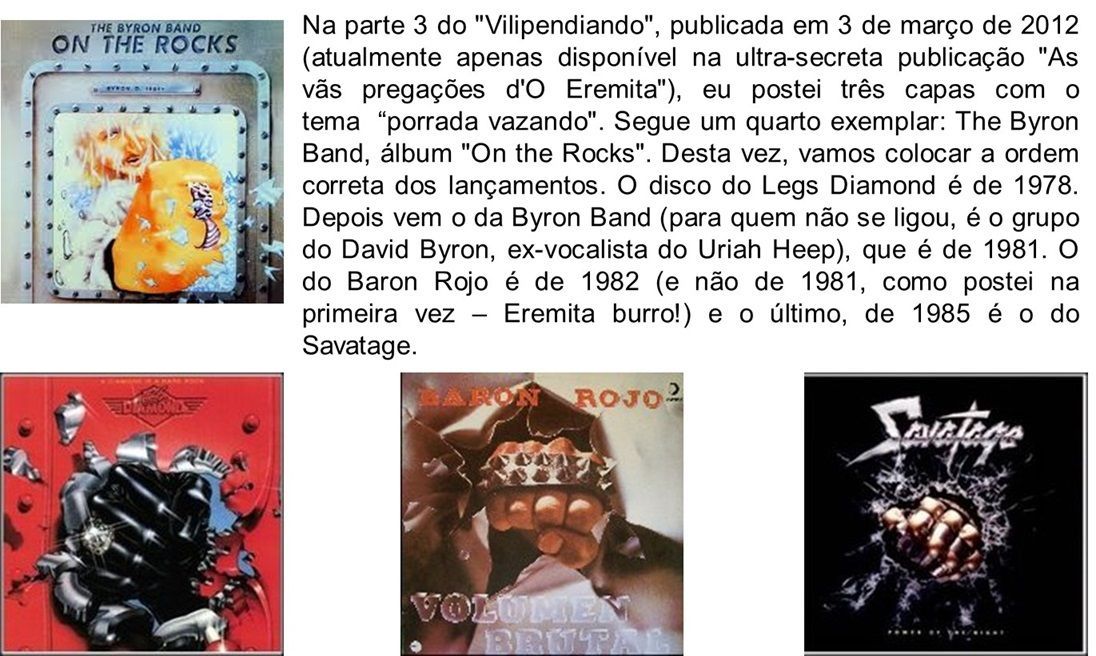
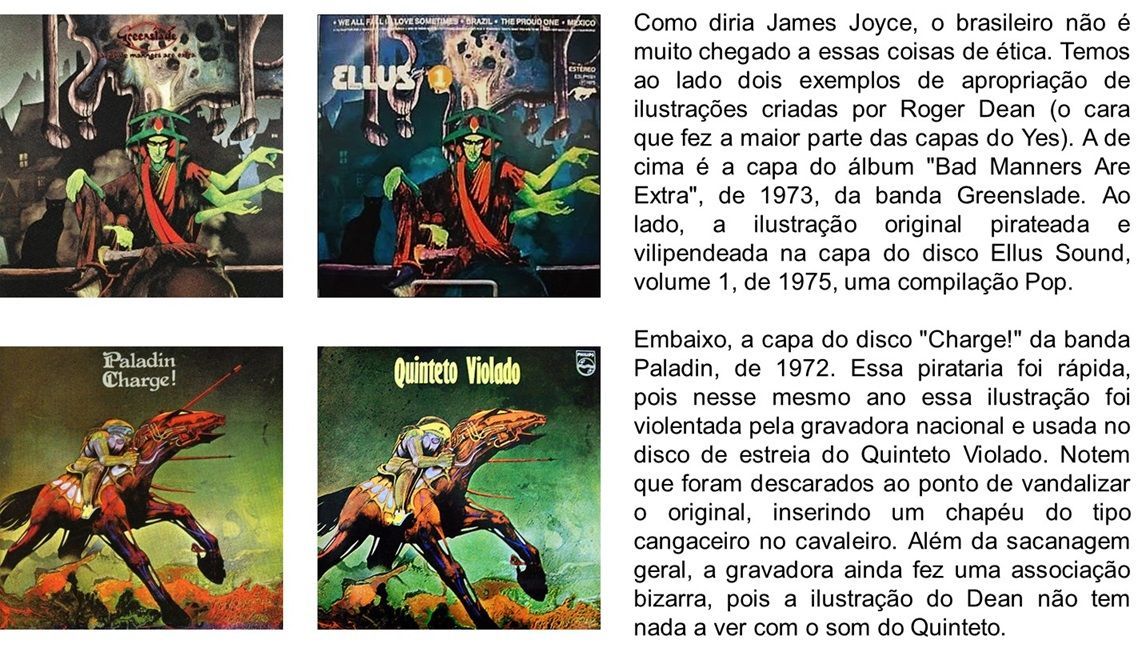



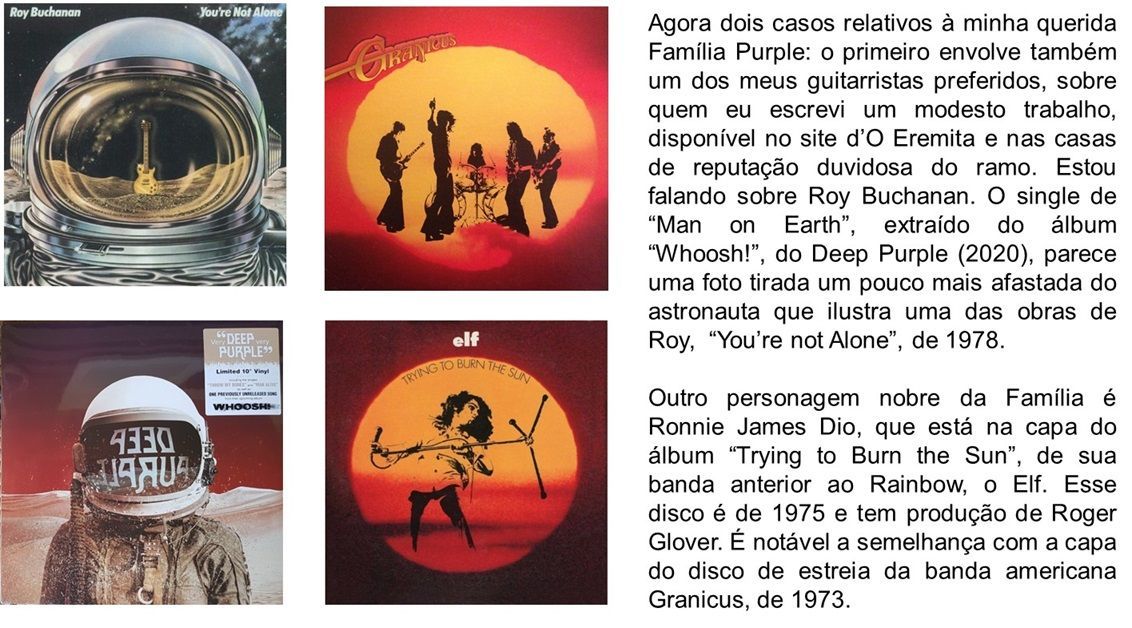


Publicado em 01.jul.23

As frases d’O Eremita – 4
O Eremita é uma usina de frases. Pena que quase todas não fazem o menor sentido. Uma pessoa normal teria vergonha de expor essas bobagens, mas, afinal eu sou O Eremita. Meu sonho é um dia conseguir escrever pensamentos tão bons quanto os gerados pela inteligência artificial. Enquanto isso não acontece, segue mais um lote de expressões emocionais, litúrgicas e desconexas:
- No Brasil existem dois tipos de torcedores de futebol: os palmeirenses e os invejosos.
- Crítico cultural é aquele faz análises simples usando palavras complicadas.
- Os seres humanos são como os textos do Eremita – a maioria não presta.
- Pense que nesta vida você pode fazer tudo, menos aquilo que você não pode.
- “Chega de corpo mole!”, disse uma lesma para outra.
- Quanto você quer para ser honesto?
- Muita gente que é pior que lixo. Lembrando que pelo menos parte do lixo dá para reciclar.
- É muito fácil atribuir um milagre desconhecido a um santo inexistente.
- Políticos honestos são tão difíceis de encontrar quanto uma comparação equivalente para completar este pensamento.
- “Minha Ferrari é vermelha não é à toa”, declarou o comunista.
Publicado em 22.jun.23

Somos americanos?
Velhos costumam ser implicantes, ranhetas e cheio de manias. O Eremita é velho e carrega o pacote completo. Uma das muitas coisas com que implico é com o excesso de anglicismos no nosso dia a dia. Eu sei muito bem que a linguagem é uma coisa viva, que é natural que novas palavras sejam incorporadas no nosso vocabulário o tempo todo, que somos esponjas da cultura americana etc etc. Só que eu acho que no Brasil estamos em uma crise exabundante.
Ao invés de tentar escrever um texto rebuscado e acadêmico sobre linguística sobre esta minha preocupação, comparando os idiomas, a questão da colonização cultural e outras ruminações intelectuais, vou direto a uma série de exemplos. Acho fácil assim – mesmo porque eu não sei como escrever coisas intelectuais!
Vou começar por uma marca de uísque (sim, o aportuguesado de whisky) que surgiu no Brasil há muito tempo – o Eremita ainda era jovenzinho, imaginem. Ele se chamava (talvez ainda se chame) 100 Pipers (o equivalente a 100 gaiteiros). Pois bem, na propaganda do produto na TV, o locutor falava “cem paipers”! Ou seja, uma tradução parcial. Não era “hundred pipers”, nem “cem pipers” (aqui o “pipers” sendo pronunciado como se lê, sem o “i” virando “ai”). Coisa esquisita, não? O que pensaram? Seria que “hundred” ficaria difícil de *pronunciar ou de guardar na memória? Ou, ainda, que talvez desse um ar pedante? Vai saber.
Se fosse pela dificuldade em pronunciar, não teriam lançado, na mesma época, um cigarro chamado “Peter Stuyvesant”. A pronúncia seria algo como “piter istaivesam”. Foi um fracasso de vendas. Ninguém conseguia pedir esse cigarro na padaria.
Falando em pronúncia, uma vez aconteceu uma coisa curiosa com o Eremita. Estava eu olhando uns aparelhos em uma vitrine de uma loja modesta. Esses aparelhos eram uma coisa que existia antigamente e que era instalado nos carros para se ouvir música – toca-fitas. Mais informações sobre isso com seus avós. Havia duas marcas de toca-fitas naquela vitrine, ambas importadas. Como era uma loja pequena, de bairro, eu perguntei com a maior simplicidade: “quanto é esse toca-fitas Alpine?” Pronunciei como se lê em português. O vendedor, respondeu num misto de arrogância e impaciência - “é aupaine, e custa tanto!”. Uau, levei uma dura. Para não passar vergonha, apontei para um da outra marca: “e esse?”. Ele respondeu: “esse é o páioner e custa outro tanto” (sei lá quanto custavam na época). Engraçado. Um era conhecido pela pronúncia correta: Alpine era “aupáine”. Já o Pioneer era “páioner”, ao invés de “paionír”. Assim como no caso do uísque, o batismo brazuca foi uma pizza meio mussarela, meio mussarela (o Eremita só come pizzas de mussarela).
Esses “causos” são antigos, da época que a invasão anglo-linguística ainda começava a se propagar . Hoje a coisa descambou. Usamos uma porrada de termos que são mais complicados do que os equivalentes em português, algo que ilógico para o Eremita. Por exemplos: o restaurante é “self-service” (muitos falam “serve-serve”); a entrega é “delivery” (a gente ouve “aqui fazemos entrega por delíveri”!); liquidações são “off” ou “sale” (estas vem complementadas por umas folhas de papel pardo tampando quase toda a vitrine, sei lá o porquê) e por aí vai.
Até as atividades do folclore americano nós copiamos. O Natal aqui no Brasil acontece no verão, mas, há tempos, toda a decoração é na base da neve, trenó, Papai Noel todo encapotado... O pior é que agora passamos a comemorar o “halloween”. Estou prevendo, por meio da minha bola de vidro (ainda não consegui comprar uma de cristal – estou esperando uma “sale”. Êpa!), que daqui a 37 anos passaremos a comemorar nossa independência no dia 4 de julho.
Bem, esta postagem está ficando um pouco longa e acho que o recado foi dado, mas gostaria de encerrar com dois exemplos recentes. O primeiro eu peguei no UOL, na coluna “TAB”, de 16.jun.23. As palavras em inglês foram devidamente marcadas com itálico no original. Mas, me espantou que elas eram maioria no parágrafo que selecionei. Segue reprodução: “A proposta é adotar um novo lifestyle, com direito a coliving, coworking, lounge gourmet, fitness room, pet zone e vários ambientes instagramáveis”.
Para completar minha impressão de que hoje o mercado imobiliário exige do comprador proficiência em inglês, ontem recebi um folheto de propaganda (“folder”, se preferir) de um apartamento, em que se lia na coluna “itens de lazer”: delivery, pet care, pet place, rooftop, além de outras coisas também citadas pelo jornalista no artigo do UOL.
Só resta a este velho rabugento dizer: put keep a real!
Publicado em 21.jun.23
Mais clichês - desta vez, futebol!
Já comentei sobre a quantidade absurda de programas e colunas na mídia brasileira dedicadas ao futebol (postagens de 11.jul.22 e de 24.set.12). Com tanta gente discutindo o mesmo objeto, o que se ouve, se lê e, infelizmente, às vezes se vê, são dissecações exaustivas sobre assuntos absolutamente irrelevantes, desde a cor da chuteira do Tiago Wesley Mateus até o novo corte de cabelo do Igor Rafael Lucas. Em um meio atulhado de pseudojornalistas falastrões, é inevitável que abundem os clichês. Vamos a alguns deles:
- opção no banco de reservas. Ninguém mais é reserva. É uma opção no banco de reservas, como se isso amenizasse o fato de que o jogador foi preterido pelo técnico. Se está no banco, é óbvio que ele é uma opção! Clichê opcionalmente besta!
- reconhecimento do gramado. O time vai fazer o reconhecimento do gramado. Os jogadores entram em campo, olham bem para aquela extensa coisa verde e concluem – “sim, este é um gramado! Eu reconheço um gramado assim que vejo um”. Ora, se é a primeira vez que o jogador pisa naquele lugar, então ele está conhecendo o gramado. Caso contrário, o time vai examinar o gramado. Não se reconhece algo que nunca viu. Reconhecer, no meu irreconhecível conceito, é confirmar se aquilo ou aquele é o mesmo visto anteriormente. Clichê reconhecidamente besta!
- muito ou bastante equilibrado. Lá pelas tantas daquele sonolento zero a zero o comentarista, do alto de sua portentosa sapiência, manda a frase – “esse jogo está muito equilibrado!” Como assim? Desde quando algo pode estar muito ou pouco equilibrado? Ou está ou não está! Não tem graduação! Esse clichê é desequilibradamente besta!
- escalado como elemento surpresa. Essa eu já ouvi de monte. O repórter de campo, ao dar a escalação, destaca que “no meio campo, o Rodrigo Luan Capixaba vai como elemento surpresa para aparecer no ataque”! Ô pá! Será realmente surpreendente se o elemento surpresa fizer algo que surpreenda o adversário, já que todo mundo já sabe o que ele vai tentar. Futebol está cheio de velhacos, com suas artimanhas espertas. Besta é tu!
- redundância geográfica. Para os faladores do meio do futebol, a população é completamente ignorante em Geografia básica, por isso é necessário sempre iluminar o ouvinte com a origem do time em questão, pois os times famosos são de locais desconhecidos, como, por exemplo: o Real Madrid, da Espanha; o Paris Saint Germain, da França; o Bayern de Munique, da Alemanha ou, referências ainda mais detalhistas, como o Torino, de Turim, na Itália! Essa preocupação informativa é que faz o jornalismo esportivo grande. Bestamente grande.
- o domínio do mal. “O jogador dominou mal a bola!”. Como assim? Ele dominou ou não? Não dá para dominar mais ou menos! Muito menos mal! Se a bola veio para o Maycon Michel Capixaba, bateu na canela dele e atingiu o olho do adversário, não foi porque ele dominou mal. Ele não conseguiu dominar, sua indomada besta!
- outro, curtinho. “Noção exata”! A bola é lançada no ataque para o Felipe Ronaldo Capixaba, só que o bandeirinha marca impedimento. Entra o locutor: “Não sei não. Daqui eu não consigo ter a noção exata da posição do atacante...”. Quéisso! “Noção exata”? Se é exata, não é noção, é certeza! Se é noção, não é exata, é algo aproximado. Bestaiada sem noção!
- toda vez que era citado o falecido técnico Tim, tinha que ser desta forma - “Elba de Pádua Lima, o Tim”. Nada de falar só Tim ou só Elba. Era sempre referido pelo nome completo e depois o apelido. Alguém sabe o porquê? Eu sei! Este clichê foi passando para os representantes da crônica esportiva pelo vírus Metiocralius Repetitivus. Ele afeta esse meio de várias formas e não tem cura;
- jogo de xadrez. O jogo começa daquele jeito – uma modorra só. Ninguém ataca, bola só pra trás ou pro lado. Aí entra o comentarista e, com toda sua erudição, solta: “os times estão se estudando, como em um jogo de xadrez”. Esta é, provavelmente, a comparação mais descabida que os entendidos em futebol usam. Os enxadristas devem ficar coléricos com tal besteira sendo repetida toda hora;
- essa bola. Deixei pro final o clichê mais recente e aquele que mais me irrita: “essa bola”. Uma construção razoável de frase é “ah, se essa bola passa...”. A referência é sobre um lance que acabou de acontecer. “Essa bola”, no caso, entra no lugar do chute ou passe (“ah, se esse passe passa...”) que poderia resultar em gol. Só que os gênios dos comentários esportivos começaram a usar “essa bola” para se referir simplesmente à... bola! Um exemplo de um comentário típico: “o técnico acabou de colocar o Severino Patrick Capixaba para ver se essa bola chega mais rapidamente ao ataque”. Ou então: “o lateral Caio Gabriel Capixaba não está se colocando para receber essa bola!”. Não tem nenhum sentido enfiar esse “essa”! Se houvesse apenas uma bola no estádio, ficaria esquisito, mas ainda teria alguma desculpa para ser usado. Mas, “essa” como artigo dói demais nos ouvidos;
- pra finalizar, o diminutivo. Esta é a especialidade do Caio Ribeiro Capixa...Ôpa, é só Caio Ribeiro mesmo: o uso excessivo dos diminutivos. Por exemplo: “O jogo está chegando ao final e ainda está um a zero pro Capixabense. Pelo que foi o jogo, o adversário merecia um placar um pouquinho melhor”. Como assim, “um pouquinho”? O que daria para melhorar seria se acontecesse um gol e o jogo empatasse! Não tem como ser “um pouquinho” melhor. Não existem gols decimais, para que fosse, sei lá, 1 a 0,7! Este é só um exemplo. O fato é que o cara exagera no uso dos diminutivos desaforadamente. Ele podia tentar diminuir um pouquinho o uso dos diminutivinhos...
É por conta desses e outras patacoadas ditas nas transmissões que faz tempo que eu assisto aos jogos com o som da TV abaixado e um Rock’n’Roll de fundo, que eu não sou besta!
Publicado em 19.jun.23.

Clichês cinematográficos abomináveis e insuportáveis - 7
Depois de seis coleções de clichês do cinema, ainda foi possível ao Eremita reunir mais um punhado deles. Das duas uma: os eles são mesmo excessivos ou o Eremita está enxergando clichê onde não tem. Estou começando a achar que comentar clichês virou um clichê deste blog!
Vamos, então, lepidamente, a mais uma coleção dessas coisas irritantes que tanto chamam a atenção d’O Eremita.
Desta vez nossa história começa com um famoso detetive durão, irônico e um pouco excêntrico chegando em casa. Ele percebe que houve uma invasão! Como? Seguindo a praxe americana de invasões a domicílios, o meliante deixou a porta da frente entreaberta. O sagaz policial percebe que há algo errado e saca sua arma. Depois de vasculhar tudo, conclui que não há ninguém e nada foi roubado, embora muita coisa tenha sido revirada.
Apesar de ser um simples e honesto detetive, ele mora em uma casa linda, moderna, extremamente bem decorada e afastada da cidade, enfim, cinematográfica (êpa!). Seu carro é um modelo esportivo de colecionador, anos 70, todo restaurado, que deve valer uma fortuna. Após a visão panorâmica imobiliária, a cena seguinte mostra nosso protagonista cortando lenha no fundo da casa, que é a forma preferida pelo cinema americano para deixar claro que estamos diante de um verdadeiro machão. Assim como a casa, o quintal é enorme, mas ele vive sozinho. Sua mulher o abandonou porque ele se dedicava demais ao trabalho e não tinha tempo para a família. Um profissional exemplar, realmente devotado e que, além de todas as despesas, ainda paga pensão. Êita empregão bom de salário esse!
Ele sai para trabalhar. Chega na delegacia e já tem um suspeito da invasão à sua casa para ser interrogado. Ele pede para que o cara confesse logo, para poupar o tempo dos dois, e oferece ao sujeito um bloco pautado com folhas amarelas, que é o padrão em todas as delegacias americanas, para que ele escreva e assine a confissão. Na polícia de lá as confissões sempre são feitas no tal bloco amarelo e que sempre é novo! Tanta delegacia carente de blocos mundo afora e eles usam um bloco zerado a cada interrogatório! Enquanto rola o falatório, o detetive examina uma pasta bege, com aba, sem elástico ou grampos, que também é padrão americano, onde constam umas fotos enormes do sujeito interrogado. Eles sempre têm fotos grandes e de boa qualidade de todo mundo!
O cara não confessa, mas dá uma pista. O detetive vai até uma boate investigar. Para não chamar a atenção, ele entra pela cozinha. Os funcionários das cozinhas americanas estão acostumados. Toda hora entra um estranho e fica andando por ali, de modo que eles nem ligam. Continuam trabalhando concentrados. Mesmo com uma superlotação do lugar, ele consegue encostar no balcão do bar sem problemas e pede uma bebida. Obviamente surgirá ao lado dele uma garota, que puxará papo com nosso bonitão. O som da boate está no talo, mas, estranhamente, eles conseguem conversar em um tom normal. Investigação feita, ele vai pegar o carro na garagem. Evidentemente que ele estará sozinho. Por isso é que garagens de prédios são os lugares prediletos dos americanos para uma emboscada. Com o tanto de gente na boate, é curioso notar que na garagem tem poucos carros e zero de movimentação. Só ouvimos os passos do nosso detetive ecoando no ambiente ameaçador. De repente, uns marginais o atacam. Estão em três. Só que nosso homem do bem é também perito em artes marciais. Os canalhas o atacam seguindo o protocolo de lutas cinematográficas, ou seja, vai o primeiro deles, recebe o golpe e cai. Depois parte o segundo, que recebe sua cota de porradas e vai pro chão. Só então entra o terceiro, que estava ali, paciente, esperando seu momento de participar. Quando o último é derrubado, é o sinal para que o primeiro se recupere, se levante e volte a atacar, para apanhar de novo, cair e assim sucessivamente.
Nosso policial chega na delegacia e fica sabendo que está suspenso, porque abusou da força física contra os caras no episódio de telecatch. Resignado, ele joga seu distintivo com desdém sobre a mesa do capitão e entrega sua arma. Ele pega uma das caixas que, assim como o bloco amarelo e as pastas beges, são iguais em todos os distritos policiais americanos. É o país da padronização dos insumos policiais. Enquanto vai ajeitando suas coisas, os policiais normais, não excêntricos porque figurantes, ficam andando para lá e para cá no fundo da cena, carregando aquelas pastas beges. Ele termina de acomodar tudo, só faltando colocar o porta-retrato da família, que é sempre a última coisa que se coloca na caixa ao ser suspenso ou demitido. Detalhe: todos os policiais têm pertences que cabem exatamente em uma daquelas caixas. Vai para casa e, quando ele entra, a luz da sala está acesa. Em casas americanas, as luzes sempre estão acesas. Prepara um drink, coloca um disco de vinil para rodar (em filmes só se ouve vinil) e fica no sofá, olhando para o infinito, o que deixa o espectador compadecido com a angústia do pobre rapaz (força de expressão, pois já vimos que ele está longe de ser pobre!).
Poucos dias depois, nosso herói está na sua enorme casa, em seu enorme quintal, mexendo no carro (todos os americanos são também mecânicos), quando chega seu antigo chefe e diz que ele está reintegrado, pois surgiu um caso complicado que só ele pode resolver. Afinal, no distrito só sobraram os figurantes carregadores de pastas beges. Pronto. Aí começa o enredo propriamente dito, encadeando outra leva de clichês, que muito provavelmente foram expostos nas seis partes anteriores destas incomplacentes compilações eremíticas.
Publicado em 19.jun.23

ATENÇÃO, AMANTES DOS RECORTES! O Eremita, em um esforço Eremítico, preocupado com a carência de recortes no mercado, está digitalizando todo seu acervo referente ao Deep Purple. Todo? Sim, todo! No momento já estão disponíveis nove arquivos para download, gratuitamente, no site Os Arquivos d'O Eremita. Nove arquivos? Tudo grátis! Sim! Sim! E, preparem seus computadores, por que vem mais por aí! O Eremita tem mais pastas de recortes do que partidos políticos no Brasil e, gradativamente, nas noites de insônia, novos itens serão escaneados e colocados à disposição da infinidade de três seguidores d'O Eremita! Bom proveito!
Publicado em 01.nov.22

ABUNDÂNCIA DE GILLAN!
O Eremita coloca neste blog legal três novidades sobre o maior vocal do Rock em todos os tempos: (1) A versão 3.0 do livro "Gillan: Vida - Discos - Vídeos; (2) Coletâneas de material sobre as turnês de Ian Gillan em São Paulo, em 1990 e 1992 e (3) Três coleções de recortes com matérias e fotos relativas ao, sim, ele, Ian Gillan, reproduzidas de jornais, revistas e outras fontes, publicadas no Brasil e, principalmente, no exterior.
publicado em 14.out.22

Sarriá, 1982. Itália 3, Brasil 2. Merecido!
Se somarmos o número de programas sobre futebol nas TVs aberta e fechada, rádio e Internet, deve dar por volta de 1.212, com margem de erro de 1,2. Haja assunto. Essa quantidade absurda é propícia para solidificar opiniões mornas, platitudes e clichês que são repetidos a toda hora, como se fossem reflexos condicionados. O Eremita, como é da velha guarda, faz duas coisas em relação a isso: acompanha a um mínimo muito seleto de programas (um, para ser exato) e baseia suas opiniões em observações próprias. Não adianta aquele ex-jogador que agora é comentarista falar que o time foi “infinitamente superior” (uma coisa de exagerada impossibilidade) ao adversário se a minha análise for que a superioridade foi de 12%, se muito.
Um dos casos que virou clichê, daqueles imutáveis para toda a eternidade, é sobre a seleção de 1982, a do Telê, que foi eliminada no jogo contra a Itália, na Copa da Espanha. Para todos os jornalistas esportivos e, por questão de doutrinamento, para a maior parte das pessoas que os acompanham, aquela seleção foi mágica e a derrota para a Squadra Azzurra foi uma tragédia comparável aos últimos mandatos presidenciais brasileiros.
Só que o Eremita assistiu ao jogo na época, ao vivo, ao contrário da maioria dos jornalistas de hoje, jovens demais para terem passado por aquele trauma. O que ficou na minha memória (coitada, mais desgastada do que passado de político) foi que o Brasil não jogou tão bem assim e que mereceu perder. Mas, como este blog é rígido com a divulgação de fatos e opiniões (a menos das vezes em que isso não acontece) eu resolvi rever o jogo no YouTube para conferir o quanto meus resquícios de memória estavam válidos.
Fui assistindo e anotando o que acontecia. Portanto, fatos.
O primeiro gol do jogo aconteceu logo aos 6 minutos, marcado pelo Rossi. Foi o primeiro chute a gol do jogo. Até então o Brasil não havia conseguido completar uma só jogada. Toda sequência de passes era interrompida por erros ou por cortes pelos italianos. Na saída do meio de campo após o gol, Zico tentou chutar direto e a bola mal chegou na grande área.
O segundo chute a gol do jogo também foi italiano. Grazziani, aos 9 minutos. Aos 10, finalmente um chute do Brasil. Serginho, após uma roubada de bola na entrada da área, aparentemente impedido. Não levou perigo.
A primeira jogada completa do Brasil só aconteceu aos 11 minutos. Leandro recebeu de Sócrates e cruzou da linha de fundo, mas Zoff interceptou. Logo em seguida, aos 12 minutos, saiu o primeiro gol do Brasil. Sócrates, um golaço. Foi o primeiro chute do Brasil na direção do gol.
Aos 13, Gentile (líbio naturalizado italiano) recebeu cartão amarelo após uma falta em Zico, a quem marcou de forma grudenta e truculenta, nada gentil (desculpem, trocadilho inevitável).
Desse lance em diante, o jogo teve muitos erros de passe de lado a lado. O aspecto geral do jogo contrasta com o futebol que se pratica hoje. Poucas faltas, nenhuma pressão sobre o árbitro nas marcações, espaço para receber a bola e pensar no que fazer com ela. Naquela época era permitido ao goleiro pegar com as mãos as bolas recuadas e mesma linha era impedimento.
O time da Itália estava um pouco melhor, errando menos passes e, surpreendentemente, driblando mais do que o Brasil, principalmente com Rossi e Conti. Até que, aos 25 minutos, aconteceu aquele famoso presente de Cerezzo, involuntariamente lançando de forma precisa para Rossi na frente da área do Brasil, que fez o segundo gol da Itália. Foi a terceira finalização dos italianos na partida.
Fatos relevantes após o gol: Eder, uma esperança na cobrança de faltas, chutou duas na barreira; Colovati se machucou e entrou Bergomi, defensor de apenas 18 anos. Aos 33 Sócrates, o melhor do Brasil até então, acertou uma cabeçada no meio do gol, que Zoff defendeu na boa. Junior errou quase todas as jogadas até então. Com a marcação do grude Gentile, Zico mal pegou na bola. Aos 38 minutos, falta frontal para o Brasil. Desta vez, Junior cobrou e mandou sobre o gol, sem perigo. No minuto seguinte, finalmente uma jogada bem tramada do Brasil. Falcão arremata junto à trave. Aos 40, Leandro tenta de fora da área. Chute fraco, inofensivo.
Aos 41 minutos o Brasil tenta um corta-luz na intermediária envolvendo Junior, Zico e Sócrates. Só que deu errado. Não houve nenhum corte de luz. Porém, Gentile estava por ali e, para não perder o hábito, derrubou Zico, sem necessidade. Eder cobra, a terceira na barreira. No rebote, o Brasil consegue boa troca de passes e Sócrates deixa Zico em condição de chute dentro da área. Para mim, ele estava em impedimento. Gentile, para garantir, puxou a camisa. De quem? De Zico, é claro. Tão forte que ela acabou rasgada. Esse lance poderia ter mudado o jogo, mas seguiu, com protestos tímidos do nosso time, apesar da evidente prova do crime.
No segundo tempo o Brasil começa pressionando. Falcão, o segundo melhor em campo, tem boa chance de marcar aos três minutos. Desse lance em diante retornou a rotina de erros de passes. Até então, o jogo tinha um toque de calcanhar aqui, uma dominada de bola bonita ali, um ou outro drible, tudo de forma isolada e pouco produtiva. Um jogo que não tinha nada de maravilhoso.
Aos 6 minutos Conti dribla Oscar e fica em boa condição de marcar. Dois minutos depois, outra falta no ataque para o Brasil. Desta vez quem cobrou foi Zico, que também errou. Aos nove, Leandro tenta novo chute. Desta vez vai no gol, mas Zoff pega, sem problemas. Em um raro momento em que Gentile não estava em sua órbita, Zico enfia belo passe para Cerezzo, mas Zoff fica com a bola.
O Brasil ameaçou engrenar. O apagado Serginho recebe na área em condição de marcar, mas divide com Zoff. Aos 14 minutos, quase a vaca vai para o brejo de vez. Rossi recebe de Grazziani, fica cara a cara com Waldir Peres e chuta para fora, da marca do pênalti! Um minuto depois, falta para o Brasil. Eder. Desta vez, a bola passou pela barreira. Mas, foi no meio do gol, nas mãos de Zoff. Aos 18 minutos, nova troca de passes correta do Brasil que deixa Cerezzo em posição de arrematar para o gol, mas, da lateral da pequena área, ele chuta para fora.
O jogo continuava com poucas faltas e reclamações, principalmente se compararmos ao que vemos hoje no Brasil. Até que, aos 23 minutos, Zoff chuta para frente, Falcão domina na esquerda e toca para Luisinho, que passa para Junior. Junior deriva para o meio e encontra na direita o próprio Falcão. Ele faz uma pequena diagonal em direção à meia lua e chuta de esquerda. Outro golaço! O empate classificava o Brasil.
Em seguida ao empate, sai Serginho e entra Paulo Isidoro. Uma substituição inócua, como se viu depois. Aos 25 minutos, finalmente a mágica acontece. O Brasil engata uma sequência de passes desde a defesa até o ataque e Zico consegue concluir, mas a bola vai fora. Um belo lance.
Aos 29, o soco no estômago de milhões de brasileiros. Antognoni cruza, Cerezzo tenta recuar para Waldir, mas é escanteio. Conti cobra, Sócrates cabeceia, cai para Tardelli que chuta ao gol. No meio da trajetória Rossi desvia da linha da pequena área. Júnior demorou para avançar e deu condição para o italiano. Hat trick de Paolo Rossi.
Aos 34 minutos, Eder tenta de falta, pela quinta vez. Bola para fora, à esquerda de Zoff.
No minuto seguinte, gol de Sócrates! Só que estava impedido – chutou após o apito. O final do jogo foi mais elétrico, com os dois times atacando, algo pouco comum em se tratando de Itália – ainda mais com vantagem no placar. Novas chances surgem, mas nenhuma contundente. Até que aos 42, Antognoni faz mais um para a Itália! Valeu? Não! Impedimento marcado, mesma linha de Junior.
As duas derradeiras oportunidades para o Brasil empatar vieram aos 43, quando Oscar cabeceia um cruzamento de Eder e Zoff defende bem (bola difícil) e aos 45, quando Eder bate um escanteio e quase faz gol olímpico – Zoff, mais uma vez, evita o gol.
Fim de jogo. Minhas memórias até que não estavam tão distantes dos fatos. O Brasil não fez uma partida espetacular, estava infeliz na criação de jogadas e, principalmente, nas finalizações. Outra coisa que ficou carimbada na seleção pelos intelectuais da crônica esportiva é que o time do Telê era fraco na defesa. Não era verdade. Perdeu porque deu um gol de presente e bobeou em um escanteio.
O time italiano era bom, com vários jogadores habilidosos e acabou sendo o campeão mundial daquele ano. Mas, vale lembrar que a fase de classificação da Itália foi sofrível. Três jogos, três empates. Campanha idêntica à de Camarões. Só se classificou por que teve dois empates em 1 a 1 e, portanto, marcou dois gols, enquanto que os africanos empataram duas partidas em 0 a 0. Seu único gol foi justamente no 1 a 1 contra a Itália.
publicado em 11.jul.22

Manual do trocadilhista
Um dos problemas em sustentar um blog é ter que gerar textos em número suficiente para manter a multidão (quiá, quiá, quiá) de seguidores interessados. No caso d’O Eremita há um entrave adicional – o bloqueio criativo que persiste desde... sempre! Para destravar, costumo recorrer aos escritores clássicos e seus pensamentos emulsificantes, como a citação mais conhecida do filósofo inglês Thomas de La Rue: “se o homem anda para frente, é para lá que devemos olhar”. Fui em frente, então, iniciando a produção de uma obra inédita, ousada e abjeta, que pretende ser útil para quem ainda não sabe o que fazer de sua vida: o “Manual do Trocadilhista”!
Como é de praxe, um artigo sério começa reproduzindo o que diz o Aurélio a respeito do objeto principal. Ou, então, com uma contextualização histórica. Vamos pela segunda opção. No início dos tempos, o homem das cavernas já concebia seus trocadilhos. Existe um registro nas paredes de uma das cavernas do Parque da Serra das Capivaras, no Piauí (que fica no Brasil, se é que alguém não sabe) atribuído a Goong, um ancestral nosso, onde se lê: “Plork Thluck”. Não é tão engraçado assim, mas é uma excelente amostra de um tipo de humor mais primitivo. De lá para cá, a prática do trocadilho só cresceu, se aperfeiçoou e virou uma mancha atávica nos cérebros humanos. Entre os personagens históricos e importantes figuras trocadilhistas podemos citar: Leonardo Da Vinci (seu nome é um trocadilho enrustido com autopromoção); Descartes (autor do trocadilho antológico: “o baralho é um objeto descartável”); Sócrates (o filósofo, não o jogador); Zenon (o jogador, não o filósofo); o Conde D’Eu (da corrente de trocadilhistas bandeirosos) e o meu vizinho, seu Durval.
O que é um trocadilho? Eu diria que é uma paranomásia ou paronomásia (do grego paronomasía, através do termo latino paronomasia), que é uma figura estilística ou figura fônica que emprega palavras parônimas (com sonoridade semelhante) numa mesma frase, fenômeno este que é popularmente conhecido como trocadilho. É o emprego de palavras semelhantes na forma ou no som, mas de sentidos diferentes, próximas umas das outras. Lá no início do parágrafo está no condicional “eu diria”, porque toda essa parte em itálico eu copiei da Wikipédia. É bom ter umas palavras complicadas no texto para impressionar os analfabetos.
O Manual começa com um alerta: existem trocadilhos óbvios e batidos, que não devem ser usados por um trocadilhista, mesmo que haja uma compulsão em abrir a boca e expelir babaquices do tipo “é pavê ou pacomê?”; “é pra comer com as mãos ou cuscuz?”; “você nasceu em Pelotas? Eu nasci de uma vez só”; “o elevador está Atlasasdo”; enfim, qualquer um que leve o coitado do ouvinte a exclamar a frase (que também deve ser abolida): “que trocadalho do carilho!”. Para que você não dê esse tipo de vexame é que o Manual te ensinará a engendrar trocadilhos criativos, sofisticados, inteligentes e limpinhos, como: “aquela cigana é Checa! Ela roga Praga!” ou “não ouço Beach Boys, não é minha praia”.
Entre os muitos ensinamentos do Manual, que o habilitará a ser um trocadilhista profissional, estão conselhos valiosos, como, por exemplo, resistir à tentação de explicar seus trocadilhos caso o público não entenda seu chiste. Outra dica de ouro é não jogar na conversa trocadilhos ligados às profissões, como “aproveta e me traz mais uma cerveja” (só os que trabalham em laboratórios vão entender); “ele matou a Dulce – foi um Dulcídio” (só os árbitros de futebol vão entender) ou “eu sou tão macho que comigo não tem essa de Homo Sapiens; sou Hetero Sapiens!” (só os antropólogos vão entender).
Fica fácil de imaginar a qualidade do conteúdo deste desumilde Manual a partir dos exemplos aqui mostrados e, também, tendo a reputação de ter sido gerado em um blog cujo nome é um trocadilho premiado. Sim, “Rock Brado” venceu o prêmio máximo dos trocadilhos, o Tomás Turbando, edição 2020, entregue em cerimônia de gala (e não de galinha! Viram, eu não consigo evitar!) pelo ex-ministro José Eduardo Cardozo.
Pense bem nas perspectivas – uma carreira fulgurante o aguarda, ganhando dinheiro até não poder mais em comédias tipo stand up ou animando coletivas de imprensa.
Além de se transformar em uma usina de trocadilhos e garantir que sua popularidade suba mais do que salário de parlamentar, você ainda aprenderá a formar frases brilhantes e que se tornarão eternas. Pois é, junto com o Manual do Trocadilhista vem um maravilhoso bônus: o Manual do Frasista! Por meio de dicas afiadas e pontiagudas, você iniciará a produção de epígrafes radiantes como: “não tema a morte – tema a vida!” ou “às vezes as flores mais belas não tem cheiro nenhum”. É mais um passo para a sua independência ou morte financeira! (notaram a sutileza do trocadilho aí no final – é nesse tipo de coisa que você virará um mestre!).
Vale lembrar que tudo isso é só uma amostra. Quem quiser realmente virar um profissional especialista em trocadilhar tem que comprar o livro, um verdadeiro Manual de autoajuda e baixo atrapalha (olha aí, mais um!). Esta precípua obra está à venda no site d’O Eremita. Cada exemplar custa a mixaria de 100 reais. Tem também a oferta especial para idiotas: dois exemplares por 250 reais!
Publicado em 30.out.21.
Quadrinhos sem talento – III
O Eremita tentou publicar suas criações quadrinísticas em mídias famosas, como a “Folha de S. Paulo”, a revista “Caras” e o boletim do “Sindicato dos Rufiões”, mas foi recusado por todos. Ignorantes, é o que eles são! A saída é continuar publicando aqui no Rock Brado, aproveitando a popularidade deste blog, principalmente na Alemanha (não se sabe o motivo). Se por um lado, existe a desvantagem de não ser remunerado, pois todos os lucros do blog vão para aplicações em criptomoedas em uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, por outro, existe o fato do índice de leitura do Rock Brado ser algo muito, mas muito próximo de zero. Então, fazer o quê? Resta se consolar nas palavras do pensador albanês Gruxmer Tlum (o popular Lombriga): “os estoicos são aqueles que nasceram para não ser não estoicos”. Seguem mais duas ahn, criações.
Publicado em 30.out.21.

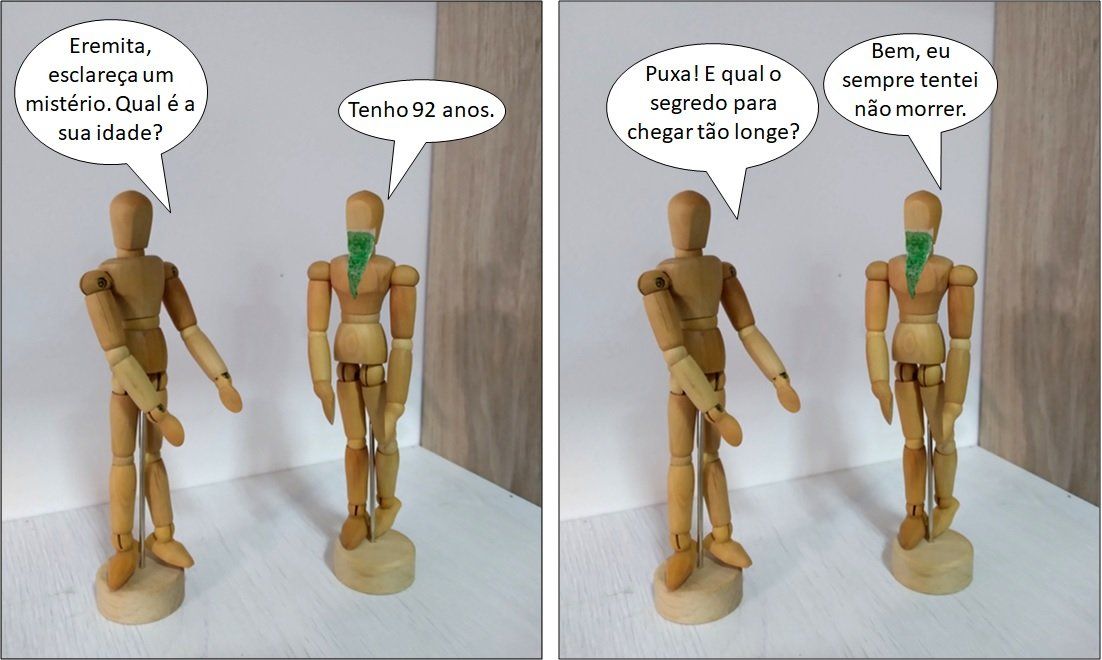

Diário de Deus
As coisas estavam ficando difíceis aqui na Terra. De repente, Deus se deu conta que estava na hora de promover umas reformas profundas na condição humana. Afinal, tinha tido um trabalhão para criar o planeta e os habitantes que ele pôs nele estavam acabando com tudo.
Resolveu, então, descer até a sua criação para vivenciar um pouco mais o dia a dia na Terra, antes de tomar qualquer medida precipitada. Escolheu o Brasil, afinal, o pessoal de lá sempre diz que Ele seria brasileiro. A cidade? São Paulo! Tem simpatia pelo nome, que homenageia um de seus maiores devotos.
Deus pensou em ficar sete dias (ele gosta desse número) pela cidade, vivendo como se fosse um mortal qualquer, sem se identificar e sem usar seus poderes divinos para nada. Na segunda-feira seguinte, hospedou-se em um hotel e, logo cedo, saiu para dar sua primeira circulada pela cidade.
Bem naquela segunda, caiu uma chuva terrível. “Devia ter combinado com São Pedro antes de vir”, Ele pensou. O fato é que, com a chuva, a rua em frente ao hotel ficou inundada o dia inteiro e Ele não pode sair. Ficou no quarto vendo TV e achando o fim do mundo o preço das coisas do frigobar.
Na terça amanheceu um dia bonito. “Agora sim, lá vou eu!”. O que Ele não contava é que, com a chuva, várias árvores caíram, inclusive na rua do hotel. Não dava para sair até que as ruas fossem desbloqueadas. O pior é que para tirar as árvores, tiveram que cortar a energia. Nem TV deu pra ver. “Ainda bem que minha paciência é infinita”, refletiu. Mais um dia no quarto. Nem algo para ler tinha. A única opção era uma Bíblia que estava na gaveta, mas ele já a conhecia de cor. “Mas, amanhã vai dar certo!”, foi o pensamento divino.
No dia seguinte, nada de chuva, nem de árvore caída. A energia elétrica tinha voltado. Ele, finalmente, conseguiu descer para tomar um táxi para dar uma circulada pela cidade. De cara ia passar em um mercado para comprar umas coisas para comer, para escapar da exploração do frigobar. O taxi rodou um pouquinho e, de repente, parou tudo. Um congestionamento enorme à frente, do lado e atrás. Perguntou o que estava havendo e o motorista de táxi respondeu que, segundo o rádio, era uma manifestação dos caminhoneiros contra o aumento do diesel. Bloquearam as principais avenidas da cidade. Pelo jeito a coisa ia longe. Deus considerou esperar um pouco. Quando viu que ninguém saia do lugar, que o taxímetro já mostrava um valor absurdo, que o motorista decidiu ouvir o rádio em um volume suficiente para compartilhar sua playlist com todo o congestionamento e, ainda por cima, tocando sertanejo, achou melhor descer e caminhar. Teria sido uma boa ideia, se não fosse a dificuldade de respirar com toda aquela fumaça saindo dos escapamentos. Conseguiu, depois de muitas tossidas e espirros, chegar a um mercado. Ainda estava olhando as prateleiras quando dois garotos entraram e anunciaram um assalto. Eles eram rápidos. Enquanto um pegava o dinheiro do caixa, o outro foi coletando as carteiras e os celulares dos fregueses. Foi um sacro susto. O dono estava em choque e um funcionário pediu que todos se retirassem, porque o mercado ia fechar. Deus ficou parado do lado de fora, atônito, sem dinheiro e sem suas guloseimas. Ele não queria apelar e fazer surgir comida no nada. Já havia aberto uma exceção materializando um celular no seu bolso, para evitar confusão com os bandidos. Optou em voltar ao hotel e descansar. Pelo jeito, hoje o dia não estava bom para sair. Ao menos tinha a TV. Ao mais, o frigobar.
Quinta-feira. Logo cedo pela janela entrava um cheiro ótimo. Olhou para fora e viu que uma feira estava acontecendo na rua em frente. Aquele cheiro vinha da barraca do pastel. Desceu e foi logo pedindo um de bacalhau. Aproveitou e pegou um caldo de cana. “Ah, delícia! Pelo jeito, hoje vai dar tudo certo”. Descobriu que havia um museu ali perto e que naquele dia iria ser aberta uma exposição da coleção de óculos do Elton John. “Humm, seria bom ver o lado cultural da cidade”. Chegando lá havia uma longa fila, mesmo sendo um pouco cedo para a abertura. Ele foi para o final da fila. Dali onde estava Ele via que do outro lado da via, havia uma fila para emprego, todavia mais lenta ainda. Depois de esperar horas, não conseguiu entrar, porque os ingressos se esgotaram. Um cambista chegou a oferecer um ingresso para Ele, que achou revoltante aquela prática, ainda mais em um evento gratuito. Antes que pudesse ter outra ideia de passeio, teve que voltar correndo para o hotel, pois começou a passar mal. O pastel. Ou, talvez, o caldo de cana. Ou, ainda, a combinação dos dois? Enfim, ficou o resto do dia de cama. Para completar, não conseguiu dormir direito. Em um bar próximo durante a noite toda tocou forró, em volume hiperbólico. Foi parar só quando amanheceu, perfeitamente sincronizado com o início da obra de demolição do prédio ao lado do bar, que seguiu manhã adentro.
Chegou a sexta. O dia estava bonito. Como estava hospedado no centro e, considerando os percalços de até então, escolheu percorrer as ruas da redondeza. Não gostou muito do panorama. Prédios pichados, muita gente morando nas calçadas e praças, pedintes em todo lado. Até que atingiu um lugar que O assustou. Um monte de gente amontoada, andando a esmo, alguns agachados tentando pegar alguma coisa imaginária do chão. Muitos deles estavam maltrapilhos, com os dedos pretos e olhares estranhos. Pensou que poderia ter entrado por engano em uma gravação de filme de zumbi. Mas, aí se deu conta: era a Cracolândia. Ficou tão angustiado com aquela visão deprimente que voltou para o hotel e ficou por lá. Como fundo, o forró involuntário.
Sábado. Dia de clássico na cidade. Entrou no clima e quis ir ao estádio ver o jogo. Comprou até uma camiseta de um dos times. Só que no caminho, começou uma briga entre as torcidas bem na Sua frente. Tentou evitar a confusão, mas não teve jeito, ficou ali no meio do empurra-empurra. Logo chegou a polícia e levou todo mundo preso. Deus não acreditava que tinha se metido em tamanho mal entendido. Afinal, não era de torcida nenhuma, gostava de todos igualmente. Mas, a situação não melhorou. A polícia pediu os documentos. Ele não tinha! O policial falou: “Cidadão, sem documento não dá pra livrar sua cara nem se o senhor fosse Jesus Cristo!”. Até a coisa toda se resolver, perdeu o jogo e o dia. De volta para o hotel. E tome forró na orelha.
Domingo. Última chance. Desta vez o dia tinha que ser produtivo, de alguma forma. Tentou nova caminhada. Estava ainda no início do passeio quando não percebeu um buraco na calçada. Sua perna entrou quase toda no buraco. Não é que quebrou! Teve que ser levado para o hospital. Demoraram o dia inteiro para atendê-Lo, tratá-Lo e liberá-Lo. No fim do dia e da semana, sentiu que era melhor voltar pra casa. Depois de uma semana como a que passou, precisava de umas férias, para depois pensar no futuro da Terra.
Postado em 17.out.21

Clichês cinematográficos – 6
Fim de noite. Naquele bar nova-iorquino esfumaçado, as propagandas das bebidas em neon iluminam os rostos dos fregueses. Dois policiais veteranos trocam queixas:
- É, meu caro. A vida está difícil. Não sobra mais crime pra gente, policiais da velha guarda, investigar. Uma hora chega o pessoal da Law & Order, outra hora é o CSI...
O colega de mesa termina seu gole na cerveja e acrescenta:
- Nova York contra o crime; Swat, Brooklyn Nine Nine, Elementary... é, não sobra nada!
O colega vai além:
- É tanta gente investigando que, não digo nada se quando aparece um crime eles não saem no tapa pra ver quem vai atender ou, pior, andam matando gente por aí, só para justificar a série!
- Sabe que você pode ter razão? Por aqui não acontece tanto crime assim para ter esse monte de gente investigando.
- É, por essas e outras que tô achando que o negócio é mudar de ramo. Conheço um cara que ficou rico alugando depósitos vazios para os criminosos levarem as vítimas ou marcar encontro de gangues. Sabe aqueles galpões enormes, que parecem abandonados, mas estão sempre muito limpos por dentro e tem energia elétrica para os caras darem aquela atmosfera especial, com uma iluminação forte bem em cima do mala que tá ferrado, amarrado numa cadeira? Então, ele tem vários.
- Ah, eu sei. Aqueles perto do porto! Acho legal quando a iluminação é ligada, faz o maior barulhão, tipo um PLÁÁÁ!
- Isso mesmo. Outra coisa que estou de olho é no ramo de entulho ou de reconstrução de prédios. Isso é legal quando rola batalha de super-heróis. Aquele monte de prédio derrubado dá um dinheirão para reconstruir. Tem um ex-detetive amigo meu que entrou nessa. Ficou tão rico que agora é até amigo de celebridades. De vez em quando ele instiga o Tony Stark a se meter em alguma confusão para destruir uns prédios ou mesmo uns carros. Esse meu amigo também mexe com ferro-velho. Quando termina a perseguição policial ou o cerco a um super-vilão, ele vai lá e arremata todos os carros destruídos por uma bagatela. Que velhaco!
- É, lembro quando a gente começou. Tinha só o Baretta e o Kojak. Eram caras de classe. Só ficavam com os casos mais complicados. Deixavam os triviais com a gente!
- É, era mais divertido. Tinha crime pra todo mundo. Bons tempos...
Publicado em 07.out.21

Críticas improváveis 6 – novamente, cinema
O Eremita perdeu seu tempo novamente assistindo a um filme da década de 60. Desta vez foi o Head (no Brasil, “Os Monkees estão de volta”) de 1968, que, teoricamente, seria um filme de Rock, estrelado pela, teoricamente banda, The Monkees.
Os Monkees não foram uma, tá bom, vai lá, banda que surgiu do jeito tradicional. Os caras foram reunidos para compor o elenco do programa de TV, isso é notório. Até aí, nenhum preconceito. A indústria musical fez e faz isso direto. Muita coisa que vendeu milhões de discos não passou/passa de invenções de produtores. Os exemplos são vários. Um que eu acho mais interessante é o do cantor inglês Tony Burrows. Na década de 70 sua voz foi ouvida em diversas bandas criadas por produtores para gerar sucessos nas paradas e dinheiro em seus bolsos. Tony chegou a ter três músicas nas listas de vendagens, por três, vai lá, bandas diferentes! Entre Janeiro e Fevereiro de 1970, ele se apresentou no programa de TV da BBC “Top of the Pops” à frente da Edison Lighthouse, Brotherhood of Man e White Plains. Esta fez grande sucesso no Brasil com My baby loves lovin’. O que me fez chegar até esse caso do Tony foi seu passado como vocal da Flower Pot Men, banda que contou, entre suas várias formações, com Jon Lord e Nick Simper.
Voltando ao Head, ele é muito difícil de aguentar, exceto, é claro, para os fãs dos Monkees. É um filme que não tem muitas coisas. Primeiro, não tem enredo. É uma colagem de cenas desconectadas, rodadas em ambientes diversos, entremeada por alguns números musicais. Segundo, não tem humor. Apesar da pseudo-banda ter origem em uma série humorística-musical para a TV (eu gostava da série – tinha coisas realmente engraçadas), o filme não me produziu nem uma risada. Se fosse pelo menos engraçado, a completa ausência de um roteiro poderia ser relevada. Terceiro. Bem, não tem terceiro. As duas coisas que faltam já bastam para não recomendar o filme. Para não dizer que não tem nada interessante, em uma cena de alguns segundos temos a presença de Frank Zappa, contracenando com Davy Jones e uma vaca!
O filme é daqueles que, dizem, virou “cult”. Os mecanismos que fazem com que algo se torne “cult” são misteriosos para mim. Neste caso, tentei forçar a imaginação para ver se encontrava algum motivo. A única coisa que me ocorreu foi que o Head fez uma possível crítica à guerra do Vietnã. Além de cenas não muito inspiradas que ridicularizam as guerras de um modo geral, o famoso tiro dado em 1968, em Saigon, pelo general Nguyen Ngoc Loan na cabeça do Nguyen Van Lem (pelo jeito, Nguyen era um nome bastante popular naquela época), é passado em mais de um momento ao longo do filme.
Caso você não adore os Monkees e tem mais o que fazer, recomendo que invista seu tempo assistindo outra coisa. Qualquer outra coisa.
Publicado em 07.out.21


Uma pequena e, considerando a envergadura deste blog, também minúscula, ínfima mesmo, homenagem a Don Martin
Não que vá fazer uma grande diferença, mas resolvi homenagear Don Martin neste adiáforo blog quando, revendo meus velhos arquivos, dei de cara com o meu cartum preferido desse americano (18.mai.1931 – 6.jan.2000), conhecidíssimo por ter sido um dos colaboradores da revista Mad por mais de 30 anos.
O cartum está reproduzido abaixo e saiu no número 55 da Mad, em junho de 1960. Nada mais Rock’n’Roll do que a rápida história contada em “In a greasy spoon diner” (algo como “Em uma lanchonete gordurosa”). Grande Don Martin.
O Rock não deve ter sido o tipo de música preferida de Don Martin. Ele teve outros trabalhos além da Mad. Entre eles, a ilustração para capa de discos. São onze as capas conhecidas, todas para álbuns de Jazz, a maioria produzida nas décadas de 50 e 60. Cinco foram para o selo americano Prestige, cinco para a CMI (Canadian Musical Industries) e uma para a inglesa Toadstool Records.
Publicado em 07.out.21.
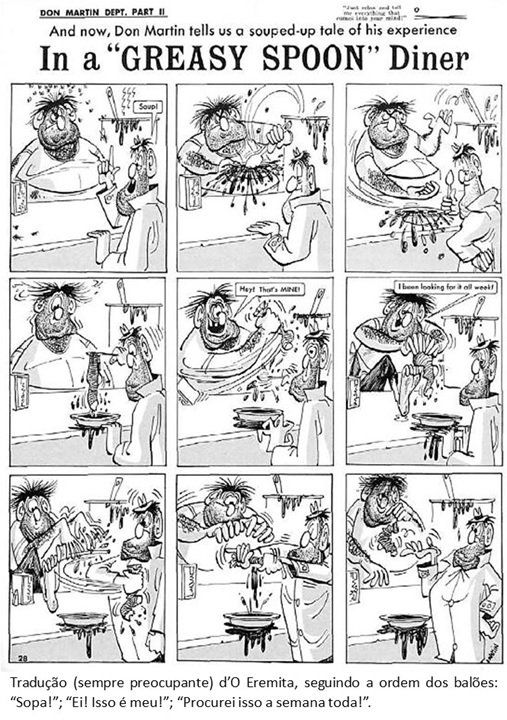
Letras líricas do Rock – VI
Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, O Eremita colocou a letra de No One Came nesta seção (foi na “Letras Líricas III”). Desta vez, vamos de Super Trouper (não, não é a do Abba!), outra música do Deep Purple, outra letra de Ian Gillan e outra abordagem sobre as agruras do sucesso. Suponho que a maioria dos viventes não admite que alguém que ganhe muito dinheiro, que viva em um ambiente de sucesso, com todas aquelas viagens, hotéis de luxo, limusines e, é claro, fartura de mulheres (ou homens...ou os dois, sei lá, está duro para um velho entender os tempos atuais) tenha sentimentos mundanos como angústia e abatimento. Pois é, nem tudo é maravilhoso, mesmo para os famosos. Todos têm problemas. Mais uma parte deles foi expressa por Gillan nos versos a seguir, na tradução sempre carregada de infidelidades d’O Eremita.
Em tempo: Super Trooper era o nome dado a um tipo de canhão de luz enorme, usado no século passado para iluminar os palcos. Portanto, sendo um nome, não cabe versão, apesar de que nossos Hermanos fizeram uma boa tentativa com “Super Actor” (!). Mais uma típica amostra da tradição portenha de traduções cômicas.
Publicado em 03.out.21
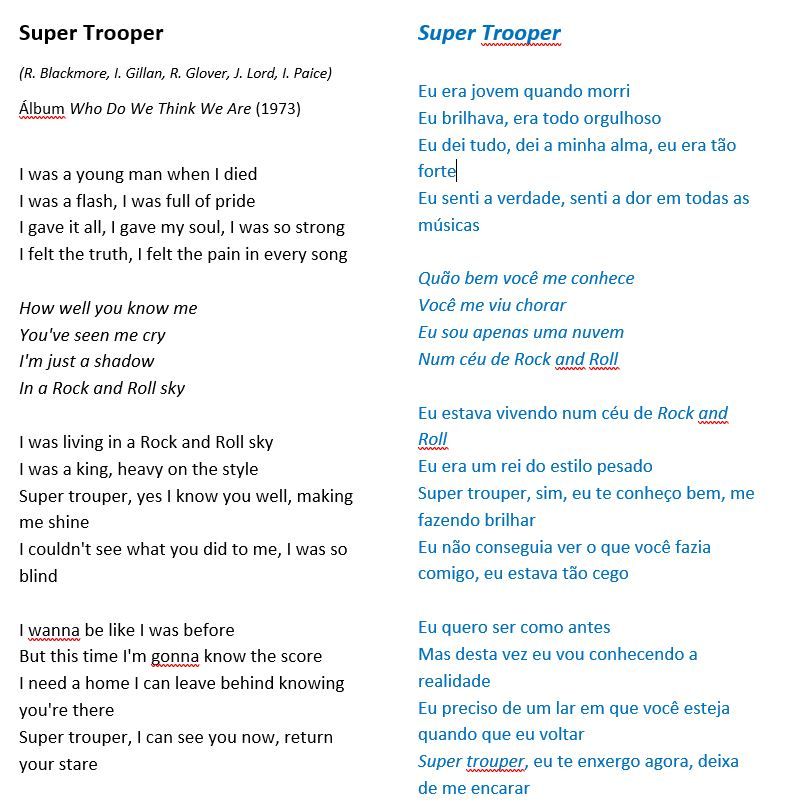
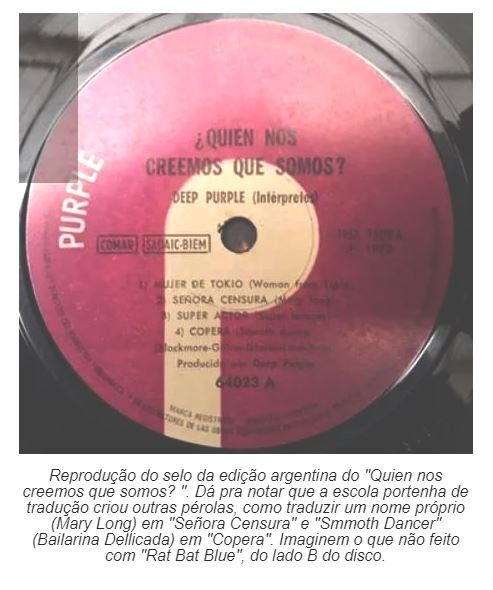

Clichês cinematográficos – 5
Ah, o mundo maravilhoso do cinema! A sétima arte! Quanta criatividade reunida para a distração dos humanos! Tá certo que uma ou outra coisinha é repetida insistentemente, conforme O Eremita apontou nos quatro capítulos que sucederam a este. E a coleção ainda aumenta. Seguem mais alguns clichês reunidos pelo sempre olhar matreiro d’O Eremita.
Ruídos estranhos à noite despertam a mulher do casal, que sacode o marido: “Tom, tem alguém em casa! ” (sempre a mulher é quem acorda com o barulho). O marido levanta e põe o roupão (americano sempre põe o roupão quando sai da cama, mesmo que seja só para andar dois passos até o banheiro). O marido pega um taco de beisebol e vai ver o que está acontecendo. Apesar da inteligente e civilizada apologia das armas que rola por lá, o instrumento de defesa dos americanos é sempre o taco de beisebol. Todo mundo tem um em casa, mesmo aqueles que não jogam beisebol. Até as solteiras que moram sozinha tem. É impressionante. A alternativa ao taco de beisebol, está sempre em cima da pia. Aparentemente, todas as casas americanas têm um jogo de facas compridas e pontiagudas na cozinha, enfiadas em um bloco de madeira. Em muitos filmes a gente é avisado que alguém já está pronto para esfaquear quando um close no bloco de madeira mostra que está faltando uma das facas. Eles gostam tanto dessa combinação que existe para vender um desses conjuntos de facas que é no formato de um homem, esfaqueado, é claro! Uma boa ideia para quem quer dar um presente sensível e delicado.
Vamos a outro: o carro americano afunda no lago americano (lá tem muito lago) e o mocinho, americano, é claro, mergulha para salvar sua amada. O problema é que é de noite. Lago, rio, mar, seja qual for o lugar, é muito difícil de enxergar qualquer coisa se você mergulhar um pouco mais fundo. Isso, durante o dia. Mas, em filmes não. Mesmo de noite, o mocinho enxerga tudo e consegue rapidamente ir direto na porta do carro. E ele ainda acerta onde está o fecho do cinto de segurança para soltá-lo e resgatar heroicamente a mocinha. Sempre é uma cena impressionante.
Mais um: tem um refém amarrado na cadeira. Pela conversa que está rolando, a gente fica na dúvida se ele vai ou não ser solto. O vilão chega perto e mostra uma faca ou canivete bem na cara da vítima, de forma ameaçadora, dando a impressão que ele vai dar um fim no pobre. Mas, não, ele usa a faca para cortar as cordas e liberar o coitado. Ufa! Impressionante!
Ainda tem mais: sempre que, em cenas de luta no telhado de um prédio, tiver uma claraboia, é tranquilo - alguém cai através dela. Tão certo quanto o impressionante café da manhã dos americanos. Ovos. Quando no filme alguém oferece café da manhã a opção é sempre e somente ovos. O engraçado é que eles todas as vezes perguntam: “Vou preparar um café da manhã para nós. Que vai querer? Ovos? ”. É batata! Ou melhor, é ovo! Hummm...
Não terminou: se tem uma coisa que não presta nos Estados Unidos são as portas. Qualquer chute e elas abrem de primeira. Porcaria de portas. Aliás, eles também fazem cadeiras e corrimãos super frágeis, que quebram com qualquer impacto. Não sei como pode, com aquela população obesa, fabricar coisas tão fracas. Deve ter acidentes toda hora. Impressionante. Putz, quase esqueci! Outra coisa que eles são ruins para fabricar são as fechaduras. Praticamente todo mundo consegue abri-las, seja com aquelas lâminas fininhas que eles levam no bolso (aquele estojinho deve vender nos supermercados, porque todo mundo tem) ou com um simples cartão de crédito. Esse eu nunca entendi – como daria para abrir uma porta usando um cartão de plástico? Só com uma tranca impressionantemente ruim. Também impressionante.
E os clichês continuam. Alguém liga para uma pessoa do filme que está encrencada e fala: “ligue a TV!”. A pessoa apanha o controle remoto e, invariavelmente, entre centenas de opções, liga no canal certo, pegando o início da notícia que interessa, mesmo tendo decorrido um tempo entre a primeira pessoa ver a notícia na TV, pegar o telefone, ligar e o outro atender.
Lembrei mais um: em filme americano, a demonstração de carinho padrão é cobrir ou puxar a coberta (pode ser um casaco) quando a outra pessoa pega no sono, seja no sofá, no banco do carro ou na cabana que eles improvisaram.
Lembrei de mais outro: a profissão mais arriscada que tem nos Estados Unidos é ser dono de um bar ou posto de gasolina no meio do nada. Uma hora um cara mau vai parar ali. Não tem jeito, o dono vai terminar morto. Outra vítima frequente: se tem um gato na família ou se é a única companhia da mocinha solteira, ele não vai chegar ao fim do filme. O gato é sempre a primeira vítima dos maníacos. Em geral, eles penduram o corpo do pobre gato em algum lugar estratégico de jeito a dar um susto duplo na coitada da vítima. É impressionante.
E, por fim, um dos infalíveis: se tem um filho no enredo e os pais são separados, o pai sempre vai faltar naquele jogo importante ou na apresentação do filho na escola. Em geral, a razão é a obsessão do pai com o trabalho. Mas, no fim, ele vai se redimir e o filho vai perdoá-lo, em um momento terno e edificante do filme.
Postado em 03.0ut.21
- visão dos binóculos – sempre que alguém usa binóculos em um filme duas coisas são certas: primeira; a poderosíssima aproximação da imagem. É como se aquele pequeno objeto que estava no bolso de alguém fosse um protótipo do Hubble de tão perto que ele vê o que está acontecendo lá longe. Segunda coisa certa: vai aparecer uma moldura preta em formato de oito na tela para mostrar o que o personagem está vendo, evidenciando que é uma visão a partir do binóculo. O binóculo d’O Eremita não tem essa tal moldura (bem, o meu é chinês, vai ver que é isso);
- carros dos policiais sempre freiam bruscamente – deve fazer parte do treinamento dos motoristas da polícia sempre parar o carro de forma a cantar os pneus, mesmo em cenas que não representam uma emergência. É certo: se uma viatura vai frear, nunca será suavemente, nem que seja na hora de pegar um café. Aproveitando, outro clichê: policiais nunca consomem nada no balcão – é sempre dentro da viatura. E as coisas só acontecem quando eles vão comer ou beber alguma coisa. O colega chega com o lanche, senta na viatura e um pouco antes da primeira mordida, pronto! Vamos à perseguição! Se for a pé, eles vão carregar a arma usando as duas mãos e os braços esticados para baixo, de um jeito pouco natural e desengonçado;
- cenas de reuniões de um cara mau com um chefão do crime sempre são em restaurantes. Quando o cara mau chega, inevitavelmente o chefão estará no meio do prato e atenderá o malvadão enquanto dá suas garfadas e umas goladas no vinho;
- nos Estados Unidos inteiro eles usam uma espécie de interruptor de luz que não temos aqui. É só prestar atenção em cenas que as luzes são acessas em ginásios e galpões vazios: cada bloco de luzes que acende é acompanhado de um barulhão (tipo assim “Plááá”. Humm, preciso fazer um curso de onomatopeias), específico desse interruptor americano, que não temos aqui. Os nosso são bem melhores, por silenciosos;
- algo que sempre me impressionou é o incrível senso de direção dos americanos. Em perseguições ou outras cenas de ação, sempre rola um “eles foram pela saída norte” ou “veículo suspeito se dirigindo para oeste pela Av. Putz”. E todos entendem! Ninguém pergunta: “como assim, para o norte? Acabei de chegar e nunca estive aqui antes. Como vou saber pra que lado é o norte? ”;
- mais uma qualidade dos americanos é serem extremamente competentes quando cavam covas. Quando alguém é assassinado e querem esconder o crime, os caras maus cavam uma cova, que sempre é perfeitamente retangular (paralelogrâmica?) e na profundidade regulamentar, tudo no capricho;
- e os sistemas de ventilação dos prédios americanos então? São todos largos, imaculadamente limpos e firmemente fixados, de modo a sempre permitir que alguém se esgueire por eles pra tudo quanto é canto do prédio, sem sujar a roupa, nem ter crises de rinite ou colocar tudo abaixo com seu peso;
- deveria ser proibido usar o clichê do alarme de incêndio daqui para frente. Já chega! Usaram demais! É só o herói ficar numa situação completamente sem saída, que ele quebra o vidrinho, aciona o alarme de incêndio e imediatamente todo o povaréu vai deixando o prédio, com calma e em ordem absoluta, enquanto o personagem se mistura à turba e se manda tranquilamente;
- quando tem cenas dentro de um carro, duas coisas são inevitáveis: se for à noite, uma estranha luz emanará do painel, iluminando os rostos dos atores. Essa luzona branca no painel só tem em carros americanos. Ainda bem, porque deve incomodar um bocado para dirigir. A outra coisa é que o motorista ficará o tempo todo mexendo o volante um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, simulando que está controlando o carro com seus micro desvios, mesmo que seja um enorme trecho em reta.
- “Quem liga para beleza externa? O que importa é a beleza interior”, apregoa o traficante de órgãos;
- Era o maior fã de Beatles entre os atores pornô. Tanto que seu nome de guerra era “Pennys Lane”;
- Muito mais difícil do que vencer uma discussão contra uma mulher é tentar saber a real cor de seus cabelos;
- O cara era tão chato, mas tão chato que quando morreu São Pedro pediu para ver se ele podia voltar mais tarde;
- Se a aparência realmente importasse, a Gisele Bunchen seria milionária;
- Quando morrem, os bons vão para o paraíso. Os corruptos, vão para o paraíso fiscal;
- Aquele era um país de um povo realmente culto. Certa vez, eu estava lendo em uma praça quando um garoto de bicicleta roubou meu livro;
- Aos meus poucos amigos: desejo que vocês tenham sorte e conheçam as exceções em um mundo formado por idiotas.
- “A paciência é uma virtude e o provolone é um queijo”.
- “Certos homens são bons. Certos homens são maus. E certos homens são mais ou menos”.
- “A filosofia e a poesia são como a berinjela - muita gente gosta, mas eu sobrevivo bem sem”.
- “Sábio é aquele homem que aproveita bem seu dia. Portanto, vá ler outra coisa”.
- “Sábio é aquele que nunca lança mão de aforismos como epígrafes”.
- “Pensamento profundo é algo que pode ser expresso com apenas duas palavras”.
- "Ouse. Desafie. Enfrente. Ou então não faça nada dessas coisas que os comerciais mandam".